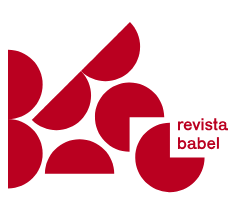Nas veias centenárias da América Latina, a arte têxtil e, em especial, o bordado costuram as histórias e memórias de parte das comunidades da região. Para além de uma prática artesanal, o bordado também é um ponto da trama de resistência contra opressões, por exemplo, das ditaduras espalhadas pelos países do continente na década de 70.
Prática artística que existe há séculos, o bordado tem raízes tanto na Europa quanto na América Latina. Na tradição europeia, valores como família, religião e lar são colocados nos temas do bordado, ainda muito associado à visão de uma mulher dócil e submissa, em uma lógica social patriarcal.
Essa tradição chega ao Brasil, e aos demais países que foram colonizados, com a introdução de um tipo de prática do bordado, aponta Cleci Eulália Favaro, doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). A pesquisadora indica os bordados produzidos pelas primeiras gerações de imigrantes italianas do estado gaúcho como exemplo disso. As temáticas retratadas eram cotidianas e bordadas em panos de parede com pontos e linhas de baixo custo. “Os objetos que as mulheres bordavam com ponto cruz e linha azul, que eram econômicos, colaboravam com o reforço de um imaginário e representações da sociedade e das mulheres naquele tempo”, explica.
Porém, antes mesmo da chegada dessas tradições coloniais, a arte têxtil e o bordado já existiam na América Latina. Os povos originários latino-americanos, sobretudo as mulheres indígenas, faziam bordados como forma de ressaltar a autonomia e o cuidado. E isso não a partir de uma posição de inferioridade, mas sim como aquelas que ocupam o papel de registrar a identidade e as narrativas de uma comunidade por meio do tecido. O bordado, nesse contexto, era um suporte da transmissão dos símbolos e das histórias de seu povo apesar das tentativas de silenciamento dessa prática, como também forma de resistência aos domínios coloniais.
Fibras que atravessam eu e nós
“A arte têxtil, seja por um fio, por uma linha ou por uma palha, consiste no movimento de pegar um material e, a partir dele, fazer nascer um caminho, um bordado com símbolos e elementos de narrativas diversas”, diz Rosana Reátegui, contadora de histórias e artista peruana que mora no Brasil há 25 anos.
A artista veio ao Brasil pela primeira vez devido a um intercâmbio de graduação em Artes Cênicas na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Na Universidade, em 1998, Reátegui teve contato com Tarak Hammam, artista franco-argelino, que narrava e produzia histórias por meio de tapetes costurados. No mesmo ano, inspirada pelo trabalho dele, a artista fundou um grupo junto a colegas da Unirio chamado Tapetes Contadores. O grupo continua ativo e se propõe a ir a teatros, museus, escolas e bibliotecas pelo Brasil e contar histórias com tapetes e outros elementos têxteis costurados e bordados, que, a depender da proposta da peça têxtil específica, pode ser inclusive manipulada pelo público.
“Com o coletivo, me vi aprendendo a linguagem do bordado e a narrar histórias de forma artística”, diz Reátegui. No Peru, o têxtil foi e continua sendo presente em elementos muito diversos da identidade histórica e cultural do país, como as vestimentas tradicionais. A artista passou a conhecer e pesquisar a produção peruana entre 2004 e 2005. “Comecei a me perguntar sobre as histórias que trazia sobre a minha terra, identidade e cultura. Eu não narrava as histórias peruanas, sentia muita falta de ter esse repertório. Agora, elas me definem como artista migrante que se interessa pela temática latino-americana.”
Para resgatar essas narrativas, em 2005, Reátegui desenvolveu aqui no Brasil o Manos que Cuentan, uma série de livros infantis bordados com algumas histórias peruanas da tradição oral. As crianças podem recontar e ressignificar as histórias por meio de personagens ou objetos removíveis e interativos que, tal como as páginas dos livros, também são bordados.
Nos últimos anos, a artista está envolvida na história do Rio Amazonas. “Um lugar que é um rio, mãe, que nasce no Peru e deságua no Brasil. É diverso nas crenças e simbologias, canta em línguas originárias e também em português e espanhol, com histórias e lendas de figuras femininas como as Amazonas.” Dessa forma, para Reátegui, tornar-se contadora de história por meio do bordado vem sendo um processo de entender a si mesma em cada um dos momentos que já vivenciou na sua trajetória de artista, enquanto parte de uma comunidade e como indivíduo.
Para Larissa Gasparin, psicóloga e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), os fios do bordado podem permitir uma conexão com elementos da identidade de quem o faz, por conta do modo singular como a costura é feita. “Quando uma pessoa borda, ela coloca o corpo em cena”, afirma a psicóloga. Como numa dança, a trama do bordado é construída aos poucos, cada ponto é feito por um movimento original de quem borda, com uma velocidade e intensidade específicas, que costura o tecido de um modo único.
Como numa dança, a trama do bordado é construída aos poucos, cada ponto é feito por um movimento original de quem borda, com uma velocidade e intensidade específicas, que costura o tecido de um modo único.
“O bordado resgata algumas memórias seja pelo que se borda, seja pelo próprio ato de bordar, acessando até mesmo um inconsciente do sujeito e suas memórias não tão próximas”, pontua Gasparin. Ao envolver toda essa entrega criativa, ele exige tempo para ser feito. Então, “quem vê [o bordado] também precisa de um tempo para se debruçar diante dele. O desenho, a trama te obriga a parar para olhar, para respeitá-lo”, comenta Reátegui.
Bordado como trabalho
A cidade de Passira, no agreste de Pernambuco, é muito conhecida pelo bordado manual aplicado em artigos de cama e mesa. Apesar do bordado estar presente desde a origem do município, assim como em outras comunidades artesanais do Brasil, há um processo de desvalorização não só do bordado, como de toda prática artesanal.
“Quando era mais nova, eu e minhas irmãs acompanhávamos nossa mãe na venda dos tecidos e bordados. Depois que crescemos, passamos a vender sozinhas e perceber que os atravessadores não pagavam bem, era uma exploração, pagavam muito pouco.” O relato é de Maria Lúcia Firmino, bordadeira de Passira, conhecida como Dona Lúcia. A comercialização dos bordados era marcada por dificuldades, os valores pagos não eram justos e as condições de trabalho também não eram boas.
Diante desse contexto, em 2008, as artesãs da região perceberam a necessidade de se organizar em um coletivo com o objetivo de encontrar soluções para o bordado como atividade econômica. Fundaram a Associação das Mulheres Artesãs de Passira (AMAP) e Dona Lúcia foi uma das fundadoras e a primeira presidente.
Dois anos depois, as artesãs participaram do projeto governamental Pernambuco com Design, que aproximou as bordadeiras de profissionais do design e promoveu capacitações na área. As bordadeiras tiveram, inclusive, a oportunidade de produzir peças e bordados que participaram de desfiles na São Paulo Fashion Week. Nessa colaboração também desenvolveram um novo tipo de ponto chamado “doidinho”, mais livre e sem direção fixa, feito para ocupar grandes espaços de tecido.
Porém, em 2011, o projeto governamental foi finalizado e as capacitações para as bordadeiras não tiveram continuidade. Foi nesse contexto que Ana Julia Melo Almeida, designer pela Universidade de São Paulo (USP), conheceu as bordadeiras. Almeida já havia pesquisado uma comunidade de bordadeiras de seu estado natal, o Ceará, e decidiu acompanhar o trabalho das bordadeiras de Passira e transformar o estudo em seu mestrado, em 2012.
O mestrado teve desdobramentos práticos, dentre eles, a idealização do projeto Bordados de Passira. A proposta foi desenvolver um projeto de financiamento coletivo, que viabilizasse capacitações de modelagem, design e venda dos produtos, sem nenhum custo para as bordadeiras. “As bordadeiras são uma mão de obra muito qualificada, mas tratada como precarizada”, pontua a designer. Em 2022, as mulheres no setor cultural, que inclui o artesanato, recebiam cerca de 23% a menos que os homens, segundo dados da pesquisa Sistema de Informações e Indicadores Culturais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Dona Lúcia relembra a importância das capacitações, que ainda têm desdobramentos no trabalho atual das bordadeiras da região. “Cada artesã foi para a área que gostava e tinha mais habilidade. Eu achava que não era capaz de mudar as coisas, mas isso mudou, aprendemos muito e repassamos os saberes para as novas gerações”. As bordadeiras de Passira continuam ativas e produzindo novas peças. As artesãs fazem as vendas via redes sociais, além de clientes fixos da região produzindo roupas, sobretudo, para o público infantil, além das tradicionais peças de roupas e cama.
Hoje em dia, a AMAP conta com 40 associadas. Qualquer mulher da região, desde que pratique o bordado, pode se associar. A organização também promove cursos na zona rural de Passira para capacitar quem ainda não sabe bordar. “Há um caráter político e uma força em se organizar em um grupo de mulheres. Um coletivo que garante a sobrevivência dessas mulheres e a comunidade delas, além de fortalecer o trabalho do bordado em relação aos intermediários”, afirma Almeida.
As relações de gênero marcam a dimensão do trabalho e ganham novas nuances quando se pensa na prática artesanal do país. De acordo com o IBGE, em torno de 64% dos artesãos brasileiros eram mulheres. Essa realidade, porém, não deve sugerir que o bordado é uma atividade exclusiva das mulheres, como alerta Ana Julia. “Não podemos entender o bordado como um território essencialmente de mulheres, mas observar de quais maneiras ele foi utilizado por elas como espaço de trabalho, experimentação criativa e resistência.”
Bordar é resistir
Além de ser uma ferramenta de resistência contra as discriminações por gênero, o bordado também é usado para enfrentar violências políticas. Nessa camada, destaca-se o pioneirismo das arpilleras, técnica ancestral de bordado que surgiu em comunidades tradicionais no litoral do Chile. Os grupos de mulheres que bordavam, as arpilleristas, utilizavam tecidos chamados arpillera (juta, no português), que deram nome à técnica.
“Uma vez uma mulher que encontrei me disse uma coisa muito sábia: ‘Eu não sei ler e escrever. Mas preciso contar logo o que eu sinto. Eu sou uma bíblia’. Isso é o que é ser arpillera”, relembra Susana Alegria, arpillera chilena que reside atualmente no Rio de Janeiro. Ela começou a bordar quando criança, quando ainda era comum as escolas chilenas terem aulas de bordado e, nas famílias, as mães ensinarem os filhos a bordar.
“Violeta Parra deixou de bordar flores e borboletinhas para bordar resistência, bordar como o povo sofria com o autoritarismo. Ela foi uma das primeiras mulheres latino-americanas a usar o bordado para contar disparidades.”
Susana Alegria, arpillera chilena
Violeta Parra foi uma das pioneiras na história das arpilleristas. Durante a década de 60, Violeta passou a enxergar no bordado a potencialidade de um instrumento de denúncia. “Violeta Parra deixou de bordar flores e borboletinhas para bordar resistência, bordar como o povo sofria com o autoritarismo. Ela foi uma das primeiras mulheres latino-americanas a usar o bordado para contar disparidades”, ressalta Susana.
Dessa forma, durante a ditadura militar chilena, as arpilleristas bordavam a violência e os silenciamentos, movidas pelo legado de Violeta Parra. A maioria desses grupos era de mulheres, muitas vezes parentes de pessoas desaparecidas e torturadas pelo regime, ou ainda que buscavam denunciar essa realidade. “O que é mais violento do que não ter uma marca, um corpo, um registro?”, questiona a psicóloga Larissa Gasparin. Como resposta a esse laço social perdido, “as arpilleristas registram as memórias daqueles violentados e, bordando, fazem uma marca no tecido e no tempo do que estava, até então, ausente”, afirma Gasparin.
Nos anos seguintes, ainda durante a ditadura, com o desuso da juta e do custo alto de outros tecidos, as arpilleristas dessa nova fase, conhecidas como Arpilleras da Resistência, passaram a utilizar retalhos e tecidos de roupas. Parte dessas artes, inclusive, alcançaram outros países nesse período por meio da exportação de produtos ou roupas que continham esses materiais, em bolsos internos, colocados de modo sigiloso. O objetivo era escancarar parcela dos horrores dos porões da ditadura e fomentar denúncias.
A história das arpilleristas, no entanto, não se encerra na década de 80. Elas continuam seja pelas artes de Susana Alegria e Rosana Reátegui, seja pelo trabalho de coletivos contemporâneos, como o Linhas de Sampa. Parte do coletivo nacional Novelo de Linhas, o grupo de São Paulo conta com 40 integrantes ativos, sendo a maioria mulheres. Desde 2018, o grupo borda panfletos em retângulos de tecido, justamente para colaborar com essa ressignificação do bordado enquanto instrumento de luta, produzido coletivamente.
Com frases e imagens relacionadas à luta por direitos, igualdade e democracia, os panfletos são feitos e expostos em varais em eventos realizados em lugares públicos, como rodas de conversa e oficinas. Quem se interessar pode pegar um dos panfletos de graça. Rita de Cássia Lima, uma das integrantes, ressalta o papel que o grupo se propõe a ter: “o Linhas borda, grita e denuncia”.
O coletivo esteve em diferentes momentos da história recente do país e dos movimentos sociais, como em eventos dos 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), manifestações por justiça à Marielle Franco e atos em memória dos 60 anos da ditadura militar brasileira. “A arpillera é algo que está vivo e ultrapassa fronteiras, sendo trabalhada em diferentes lugares pelo seu valor testemunhal, que transforma os tecidos em dispositivos de memória”, diz Ana Barrientos, antropóloga chilena da Universidade Federal Fluminense (UFF).
“A arpillera é algo que está vivo e ultrapassa fronteiras, sendo trabalhada em diferentes lugares pelo seu valor testemunhal, que transforma os tecidos em dispositivos de memória”
Ana Barrientos, antropóloga chilena
Outro exemplo dessa difusão, o ponto de partida para Barrientos pesquisar o tema foi o conjunto de bordados Arpilleras, bordando a resistência, feito pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) a partir de 2014, e que deu origem a um documentário em 2017. As artes denunciavam a realidade nas cinco regiões do país de mulheres atingidas por barragens, que transformavam a dor em pontos no tecido.
Uma expressão artística e forma de sustento para alguns grupos, o bordado nasce em grande parte pelas mãos de mulheres em suas diferentes subjetividades. Por meio da técnica da arpillera ou das demais técnicas do bordar, esse fazer possibilita marcar em um tempo e em um espaço, a memória, inclusive, daquelas e daqueles historicamente silenciados.