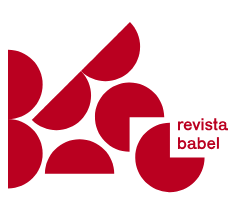“Eu não falo muito a língua de vocês, não. Português eu falo pouquinho”, conta Kawakani Mehinako aos visitantes do Museu da Cultura Indígena, onde trabalha, em São Paulo.
Falante nativa de mehinako, Kawakani nasceu em uma aldeia na terra indígena do Alto Xingu, em Mato Grosso, e falou apenas sua língua materna durante a infância. Só passou a aprender português aos 16 anos. Ainda hoje faz aulas on-line para afinar o conhecimento do idioma.
Ela é uma dos quase 1,7 milhão de indígenas apontados pelo censo de 2022 do IBGE, e fala uma língua que, assim como outras dezenas que existem no território nacional, está vulnerável ao rápido avanço do português.
Na terceira edição do Atlas das Línguas do Mundo em Perigo, lançado pela Unesco em 2010, é mencionada a dificuldade em se estimar a quantidade de idiomas falados pelos povos indígenas brasileiros. De acordo com a publicação, o número aproximado gira em torno de 190, mas outros autores postulam cifras variadas.
O mehinako de Kawakani é uma dessas línguas. No entanto, nesta fase de sua vida, ela precisa estar com o português na ponta da língua: depois de sair de sua aldeia aos 22 anos para fazer o ensino médio em Cuiabá, ela se mudou para a capital paulista, onde estuda odontologia.
Apesar de ser crítica quanto à própria fluência na língua portuguesa, Kawakani consegue se desenrolar bem no idioma. Para ela, a dificuldade está na abundância de palavras — muitas formas de chamar a mesma coisa. O mehinako não é assim.
Mesmo o inglês, que ouvia na sua infância e adolescência da boca dos antropólogos estadunidenses que pousavam entre os mehinakos, e que agora estuda em um curso proporcionado pelo museu em que trabalha, lhe parece menos complexo, menos prolixo.
O mehinako pertence à família aruaque — ou seja, partilha traços e uma origem em comum com outras línguas aruaque. Em artigo do livro Línguas Ameríndias: ontem, hoje e amanhã (2020), Ángel Corbera Mori, professor da Unicamp, conta 43 famílias linguísticas e dois grandes troncos, o Tupi e o Macro-Gê, no território brasileiro.
Há, ainda, seis línguas isoladas, que não tem parentesco aparente e provado com outros idiomas a ponto de formar uma família.
Com os métodos da linguística, é possível comparar alguns aspectos dessas línguas para identificar suas relações de parentesco e origens comuns — um pouco como examinar o genoma de primos e identificar que partilham os mesmos avós.
Essa caminhada linguística pode ser reconstruída até 10 mil anos no passado, diz Filomena Sandalo, professora da Unicamp especialista em kadiwéu — língua falada pelo povo do mesmo nome que vive na Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul.
“Há 10 mil anos, a gente já tinha famílias distintas [no território nacional]”, explica a professora, ao comentar sobre a possibilidade de uma origem comum às línguas indígenas — hoje, em geral, rejeitada pelos linguistas.
Trocas e dominação cultural
O atlas da Unesco usa de uma classificação que vai do “a salvo” até o “extinta”, com diferentes gradações de permeio. Mas, de forma geral, quando se fala de línguas indígenas brasileiras, “todas estão com perigo de enfraquecimento, porque o português está ficando cada vez mais a língua dominante, mesmo nos lugares onde a língua nativa é preservada”, explica Filomena.
Parte do português brasileiro deve suas particularidades às línguas que já estavam aqui há muito mais tempo. É uma hipótese, mas pode ilustrar bem o fato: falar “aqui tem muito livro para eu carregar” no lugar de “muitos livros”, ou “eu sou vendedor de cavalo” em vez de “cavalos” — enfim, usar singulares quando a ideia é de plural — é um traço que o português brasileiro compartilha com várias outras línguas indígenas no território nacional, explica Filomena, mas que não aparece no português europeu.
“O português tem um poder de influência muito forte, que acaba entrando na língua.”
Naldo Tukano, estudante de linguística
No entanto, o mais preocupante para as línguas indígenas ainda vivas é justamente o processo inverso: o avanço do português sobre elas. Algumas vezes, o idioma indo-europeu acaba substituindo-as completamente. “Conforme as línguas indígenas adotam mais palavras e estruturas do português, sua cultura e idioma são enfraquecidos”, diz a professora.
Pesquisa e futuro
Naldo Tukano, estudante de linguística na Unicamp e aluno de Filomena, tem a mesma preocupação. “O português tem um poder de influência muito forte, que acaba entrando na língua.”
Ele é falante nativo do tukano, língua cujas diferentes variedades formam sua própria família. Natural do Amazonas e filho de professores, Naldo hoje mora em Campinas, no interior de São Paulo. “Você acaba pegando um pouco do sotaque entre o português e o tukano. Assim como acontece bastante entre o inglês e o português”, explica ele, que hoje, em sua formação como linguista, se dedica a estudar o tukano.
Naldo terminou o ensino médio em 2015. Segundo sua própria avaliação, não entendia tanto o que era linguística quando prestou o vestibular para a área — entrou na universidade para aprender a escrever melhor. “Eu tive muita influência do meu primo, que faz Letras. Ele trabalha bastante com essa parte de redação, e o meu sonho sempre foi tentar escrever o português nessa metalinguagem que o povo fala tanto na academia”. Em 2016, prestou e passou no vestibular indígena da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e lá descobriu mais sobre o que de fato fazia essa ciência — o estudo e a descrição da linguagem humana.
Na universidade, descobriu que poucas pessoas estudavam línguas indígenas. Suas ideias de usar a tecnologia e incluir as línguas indígenas em plataformas digitais, como o Google, também não foram bem recebidas à época. Por isso, foi para a Unicamp, também por meio de um vestibular indígena, em 2019.
Hoje, trabalha com levantamento de corpus linguístico. Ele recolhe e descreve fenômenos gramaticais alimentando um repositório digital. “A pesquisa em si tem um objetivo real de, um dia, quem sabe — é quase uma utopia — inserir vários dados, trabalhar com áudio em alguma língua indígena — o tukano, por exemplo”. Para que, no futuro, talvez, o computador entenda a língua e consiga fazer traduções. “Quem sabe um dia a gente consiga fazer igual o inglês, o português, e estar em vários aplicativos, várias plataformas e até em teclados do computador”, idealiza Naldo.
Ensino e retomada
As influências linguísticas sobre as línguas indígenas, naturalmente, não se restringem ao português e aos outros idiomas falados no território brasileiro. Melancia é xãjau para os guarani-mbyá, mas para os guarani-ñandeva, é sandía, palavra de origem espanhola.
No Brasil, há 43 famílias linguísticas e dois grandes troncos, além de seis línguas isoladas.
O exemplo é de Jurandir Augusto Martins, morador da Terra Indígena do Jaraguá, local onde foi professor de ciências, artes e guarani, no noroeste da capital paulista.
O guarani é uma das línguas nacionais do Paraguai. Jurandir, cujo nome indígena é Tupã Jekupe Mirī, explica que, pela proximidade das aldeias ñandeva com esse país, alguns aspectos de sua fala são influenciados pelo castelhano — daí a sandía. Já os mbyá, mais distantes do Paraguai, têm maior influência do português.
“O guarani é muito forte, mas os elementos e as palavras em português adentram o idioma na forma de falar. E fica cada vez mais intenso. Cada ano que passa, eu vejo que muitas palavras já não são faladas devido a essa interferência”, explica o professor.
Apesar da docência, sua primeira língua é o português — ele aprendeu guarani na adolescência. Sua família não está no Jaraguá há muitas gerações, mas ele vê a presença indígena na área como uma forma de retomar a terra e os costumes. “Depois de muito tempo [da invasão portuguesa], nos anos 50, meus avós vieram para cá. Aí, agora, recuperamos muitas coisas que foram perdidas. Inclusive o idioma.”
Ele e outros professores, com a ajuda de uma bolsa do MEC da ação “Saberes Indígenas na Escola”, começaram a produzir alguns materiais de ensino, como cartilhas em guarani. As aulas de guarani servem como forma de letrar os alunos nesse idioma e ele conta que a maior parte das crianças na Jaraguá são bilíngues em português e guarani, já que muitas famílias usam a língua indígena em casa.
Mas, para Jurandir, os materiais que existem hoje ainda não são suficientes. “O ensino é muito complexo, então a gente precisa produzir mais materiais. A gente fez o primeiro material e já estava começando a produzir o segundo, de uma forma abrangente, como vídeos, livros de contos e essas coisas. E aí o programa parou.”
No Jaraguá, Jurandir mora em uma comunidade guarani já estabelecida. Hoje, já deixou a sala de aula — trabalha com educação ambiental, falando de temas como plantio e reflorestamento para estudantes de fora que vão visitar sua tekoá (aldeia guarani).
Já Naldo e Kawakani veem suas passagens por Campinas e São Paulo como algo mais efêmero em suas vidas.
“É difícil a convivência, porque a cultura é diferente também”, explica Naldo. “Mas você vai tentando se adaptar à situação, porque sei que minha vida não vai ser sempre aqui. Tenho a intenção de terminar meus estudos, voltar para a minha região, criar uma organização ou trabalhar em organizações voltadas para línguas indígenas.”
Kawakami tem preocupações parecidas. Fala do difícil acesso à saúde em sua aldeia, e se preocupa com o cuidado bucal das crianças mehinako. Quer se formar em odontologia e voltar para lá. Mas esse não é o único motivo para querer um retorno. Há algo na vida citadina paulistana que a incomoda.
“Eu acho melhor [retornar], porque eu percebi que aqui em São Paulo é muita correria. É muito difícil a vida de vocês não indígenas, porque a vida do indígena é a melhor do mundo”. E quer espalhar a mensagem: “eu vou falar [isso] lá [quando eu voltar]”.