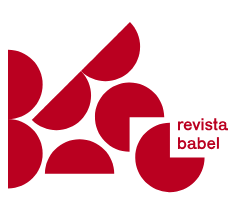O conceito de bioeconomia é recente no Brasil, mas já é o foco de pesquisas e debates. Fluido e ainda em definição, este termo se destaca no contexto das mudanças climáticas, segurança alimentar e desenvolvimento econômico sustentável, mas ganha sentido também na vivência de povos originários. Apesar de ser um conceito que pode ser pouco conhecido por alguns indígenas, a bioeconomia é considerada uma forma de economia feita por eles há muito tempo.
Francisco Apurinã, indígena, mestre em Desenvolvimento Sustentável e doutor em Antropologia Social pela Universidade de Brasília (UnB), explica que a bioeconomia indígena se refere a “tudo aquilo que é cultivado, produzido e comercializado a partir dos conhecimentos ancestrais dos povos originários” — perspectiva também abordada por Francisco junto da pesquisadora Braulina Baniwa no estudo Bioeconomia indígena: saberes ancestrais e tecnologias sociais, de 2024, produzido em colaboração com as organizações Uma Concertação pela Amazônia e WRI Brasil.
Segundo os autores, a economia indígena se baseia em modos de produção sustentáveis, que, além dos conhecimentos ancestrais, também empregam conhecimentos não indígenas. As práticas, costumes e técnicas de trabalho observadas na forma de lidar com a natureza e com o que ela oferece podem diferir ou convergir entre os mais de 260 povos indígenas que vivem no Brasil, número de acordo com levantamento do Instituto Socioambiental (ISA) de 2023.
Conforme o antropólogo, a visão indígena da bioeconomia está conectada à relação interdependente e de respeito dos povos originários com o território, ecossistemas e seus habitantes — visíveis e invisíveis. Nessa relação, há a desconstrução da visão de posse do território e do que advém dele.
“Ao olhar as castanheiras, as samaúmas e diversas outras árvores, a gente não enxerga as notas de 100 ou de 50 reais, mas sim uma relação de parentesco, de interdependência, porque aquela árvore, aqueles animais ou aquele recurso aquático têm uma função, uma responsabilidade naquele ecossistema”, relata Francisco.
O mundo pela cosmologia indígena
Pela perspectiva indígena, a bioeconomia não pode ser compreendida apenas pelo produto ou serviço gerado, mas também pelo processo, que reflete o modo como esses povos entendem o mundo. Para explicá-lo melhor, Francisco usa como exemplo a cosmologia apurinã, que parte da existência de três mundos que precisam estar em conexão: o mundo de cima (ikyra thyxi), ocupado pelos seres celestes; o mundo do meio (ywa thyxi), ocupado pelos humanos e não humanos; e o mundo subterrâneo (ywa ypatape thixi), ocupado pelos seres encantados.
O mundo do meio se divide entre os ecossistemas aéreo, aquático e terrestre — cada um com agências espirituais e guardiões protetores. Os pajés, como agências espirituais, são responsáveis por fazer a conexão entre os mundos com diferentes ecossistemas e seus guardiões, para que exista equilíbrio, manutenção e sustentabilidade entre eles.
“Para nós, todos esses ecossistemas têm um chefe guardião. Para você tirar alguma coisa, sobretudo para comercializar, você precisa estabelecer uma relação de negociação”, conta o pesquisador.
Antes de caçar, pescar e coletar recursos da natureza, o povo apurinã precisa pedir licença aos protetores e negociar com os guardiões em uma relação de respeito. Nesse contexto, a perda da biodiversidade e as mudanças climáticas são exemplos de alguns dos sintomas das ações humanas em larga escala que, prejudiciais ao meio ambiente e ao equilíbrio entre os ecossistemas, não seguem os princípios indígenas.
“Quando esses recursos naturais são destruídos, como estão sendo agora, esses guardiões que protegem eu e você, toda a humanidade e os outros seres existentes na natureza, eles vão embora, e com eles levam a caça, as frutas, a água, o peixe, tudo que nós precisamos para viver bem e para continuar vivos”, alerta Francisco.
Antes de caçar, pescar e coletar recursos da natureza, o povo apurinã precisa pedir licença e negociar com os guardiões em uma relação de respeito.
Beneficiamento de produtos
O estudo Nova Economia da Amazônia, com indígenas do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Maranhão e Tocantins, listou produtos das principais atividades econômicas de povos indígenas, como por exemplo o abacaxi, açaí, café, cacau, castanha, cupuaçu, murici e pimentas diversas.
Alguns desses produtos são usados para a subsistência e trocas internas, mas também são comercializados e transformados em negócios. Francisco cita como exemplos o café produzido pelo povo indígena Paiter-Suruí de Rondônia, as pimentas produzidas pelas mulheres baniwa do Amazonas e as roupas e acessórios estampados com os grafismos do povo Yawanawa do Acre.
Em 2022, o cafeicultor indígena Valdir Aruá, da aldeia São Luiz, Terra Indígena Rio Branco, Rondônia, foi o vencedor da 4ª edição do Projeto Tribos, idealizado pela 3 Corações.
Valdir, que está envolvido com a produção cafeeira desde 2004, considera gratificante saber que o seu esforço e trabalho estão sendo reconhecidos a partir de sua participação na iniciativa. Ele define sua produção como “um café de qualidade produzido por indígenas Aruá” e conta que ele e sua família têm como objetivos “produzir um café de qualidade e ter um espaço no mercado”.
No Sul do Brasil, a produção que se destaca é a da erva-mate. No território indígena Kaingang de Mangueirinha, município do Paraná, Jonatas Poxin, em entrevista à Babel com mediação da Kaingang Daniela Correia, conta que alguns moradores usam as folhas da erva-mate para fazer chá ou remédio e a maioria também as comercializa.
Jonatas conta que a colheita da erva-mate é feita através do processo natural da planta, tendo cuidado e respeito no plantio e produção. “Nossa erva-mate é nativa, o que é feito aqui respeita o processo da própria natureza, pois aguardamos os períodos certos do ano para retirá-la.”
Joel Anastacio, também em entrevista feita com mediação de Daniela, fala da importância cultural, social, ambiental e econômica da erva-mate para os Kaingang. A erva é considerada uma planta importante por suas características medicinais e energéticas, e na cultura Kaingang está conectada à cosmologia indígena, em que há a proteção da erva por seus guardiões.
“A erva-mate que é conhecida como chimarrão hoje em dia, antigamente era um momento [de produção] quando nossos ancestrais se reuniam para conversar com a comunidade”, explica Joel. No contexto ambiental, ele aponta a erva-mate como uma planta nativa cujo crescimento tem influência no micro e macroclima da região.
“A bioeconomia está associada não só a produzir a partir de insumos renováveis, mas também a usar recursos de forma mais eficiente.”
Geórgia Jordão, geógrafa
No cenário econômico, a erva-mate é fonte de renda para os Kaingang e também para os Guarani — etnia muito envolvida com o processo de patrimonialização da erva. Segundo Joel, essa é uma planta cujas potencialidades farmacêuticas e energéticas a tornam muito procurada por seus produtos e subprodutos.
Protagonismo indígena
Georgia Jordão, geógrafa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), explica que a bioeconomia surge no contexto da tentativa de reduzir as emissões de combustíveis fósseis, principalmente no cenário da comunidade europeia de produzir sem emitir gases de efeito estufa e de otimizar o consumo em termos de energia e de água.
De acordo com a especialista, a bioeconomia surge como uma perspectiva muito aderente no Brasil, baseada em produtos e atividades com impacto positivo para o meio ambiente e para as pessoas. “Quando a gente fala [que são boas] para o meio ambiente, é que essas atividades são produzidas sem geração de gases de efeito estufa. Para as pessoas é porque essas atividades podem gerar emprego e renda, promovendo a inclusão social de grupos que são marginalizados da economia formal.”
Lívia Menezes Pagotto, secretária executiva da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, explica que a bioeconomia é diversa e tem grande potencialidade no Brasil. Ela conta que o termo se estende desde o contexto dos biocombustíveis e a trajetória brasileira no desenvolvimento de um combustível renovável, até as cadeias produtivas de diferentes produtos de comunidades tradicionais, dentro e fora da Amazônia.
“Não existe hoje uma unidade administrativa adequada para os povos que vivem, principalmente, na Amazônia, e que atenda a produção coletiva característica das comunidades tradicionais.”
André Fernando Baniwa, liderança indígena
Nesse cenário, tanto Jordão quanto Pagotto reforçam a ideia que há muito o que aprender com o conhecimento indígena da bioeconomia. “Os povos indígenas nos ensinam muito sobre técnicas tradicionais de cultivo, sobre as formas de produção, sobre o entendimento de fenômenos climáticos e regulações climáticas que vêm sendo alteradas”, pontua Pagotto.
“A bioeconomia precisa considerar os princípios culturais dos indígenas, de quilombolas, dos povos tradicionais como um todo”, diz André Fernando Baniwa, líder indígena e vice-presidente da Organização Indígena da Bacia do Içana (OIBI). Segundo ele, para tornar essas comunidades visíveis e protagonistas, a construção de conceitos, como o de bioeconomia, precisa contar com suas perspectivas. Assim, além de estruturar o termo de maneira geral, os povos podem adequá-lo conforme suas especificidades.
Para impulsionar o protagonismo de povos originários na bioeconomia, é ainda necessário desenvolver mercados, principalmente internos, para o beneficiamento dos produtos nativos, além de desenvolver políticas públicas que possibilitem a estruturação das cadeias produtivas. “Não existe hoje uma unidade administrativa adequada para os povos que vivem, principalmente, na Amazônia, e que atenda a produção coletiva característica das comunidades tradicionais”, relata André.
Colaboração: Jacques Marcovitch, professor da USP e coordenador do projeto Bioeconomia – Estudo das cadeias de valor na Amazônia; Natália Bristot Migon, bióloga e doutoranda do Curso de Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS); Victor Xunù, vice-cacique da aldeia Guarani Ka’a Mirindy.