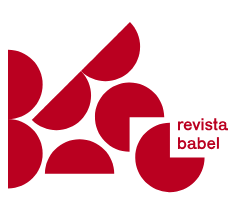O que minha avó e Lélia Gonzalez têm em comum? A pele não é, decreta o registro de óbito; a avó morreu como branca. Mas consigo apontar algumas semelhanças.
Ambas eram filhas de pais pobres, da periferia. Lélia com muita batalha e vontade terminou o Ensino Médio nos anos 1950 e a graduação em História e Geografia na década seguinte.
Tide, minha avó, depois que aprendeu a ler e escrever, e sentia o deleite constante da atividade, largou a escola por ordem do pai, ainda muito jovem. Acatou o que lhe foi imposto: trabalhou, casou, teve três filhas, a última delas com a minha idade agora, aos 27 anos, minha mãe. Foi perto dos 30, em 1978, que adotou seu quarto e último filho, preto.
Foi perto dos 40 que Lélia Gonzalez auxiliou na fundação do Movimento Negro Unificado (MNU), e que era o resultado da vontade de respostas e ações para a efervescência do debate sobre racialidade no país, no mesmo ano de 78.
O movimento clamava por justiça racial, e não aceitaria mais consternar sobre a impedição de quatro jovens negros de usarem a piscina do Clube de Regatas Tietê, ou o assassinato do trabalhador Nilton Lourenço pela polícia militar, no bairro da Lapa.
Em pleno ápice da ditadura militar brasileira, com AI-5, tortura e repressão incessantes, o MNU surge como resposta a toda a injustiça e ao mito de democracia racial. Para que situações como a de Robson Silveira, acusado de roubar bananas de um feirante quando estava na volta para casa, na zona leste de São Paulo, não passassem impunes. Para que jovens negros e periféricos tivessem o direito de ir e vir, inclusive dentro de espaços acadêmicos. Foi o que Lélia fez ao se formar bacharel.
E foi o que Tide fez, também em 78, ainda parda, ao voltar para a escola, seu lugar de desejo e de pertencimento. Ao se formar bacharel, assim como Lélia, pela primeira vez em meados dos anos 80. Ao finalmente se filiar ao Clube de Regatas Tietê. Moradora da zona norte de São Paulo, Tide sabia o que significava entrar na piscina do Clube Tietê.
Ocuparam espaços repressivos para mulheres negras, se fizeram inseridas e abriram portas para o que era delas, e também pelos seus, cada uma à sua maneira. Uma, ativista política, escritora, filósofa, líder. A outra, ativista na luta antimanicomial, funcionária do sistema público, assistente social, mãe parda de menino preto. Ambas lutavam pela melhoria de vida da população negra e pobre do país.
Mas é pelo fato de não ser educada para se casar com um ‘príncipe encantado’, mas para o trabalho, que a mulher negra não faz o gênero da submissa, já dizia a filósofa.
A mentalidade machista assombrava as duas, fato que se tornou relevante para ambas, que foram buscar espaço no movimento feminista, ainda muito branco, classista e nada racializado. Lélia escreveu para o mundo sobre o sexismo silenciador para as mulheres, e Tide colocou tudo isso em prática, voltando a trabalhar, estudar e se fazer ouvida.
Dentro da universidade, Lélia confrontou de forma constante o academicismo e linguagem gramatical duras, que dificultavam o acesso de seus pares negros à educação. Tide colocou em prática as falas de Lélia, entrou na academia e reformulou a linguagem para o que fosse de seu entendimento. Formou-se em três graduações e tornou-se professora universitária.
E meu medo tem tudo a ver com isso. É entendendo a luta de Luiz Gama — maior abolicionista do Brasil e, agora, mais de um século depois de sua morte, Doutor Honoris Causa pela maior universidade da América Latina — que hoje ocupo espaço nesta revista uspiana.
É pela luta do MNU no maior período repressivo do país que ocupei espaço em minha primeira graduação, em instituto particular, como bolsista por cotas raciais. É por eles que sei como devo chegar, como mulher negra, mas sem deixar de ocupar espaços. Porque Luiz Gama, Lélia e Tide sabiam o que eram a vida toda. Suas lutas, por mais duras que sejam, são vitoriosas. É por eles que sou quem eu sou.