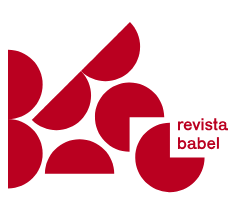“Acabou nosso carnaval/ Ninguém ouve cantar canções/ Ninguém passa mais brincando feliz/ E nos corações/ Saudades e cinzas foi o que restou”. Anterior ao regime militar, a letra de Marcha da Quarta-Feira de Cinzas, de Vinicius de Moraes, parece prever o momento vindouro. A esperança anunciada nos versos “A tristeza que a gente tem/ Qualquer dia vai se acabar”, levaria 21 anos para se concretizar.
A canção fez parte do espetáculo Opinião, primeira grande reação, por meio da teatro ligado à cultura de esquerda, ao golpe de 1964. Principal espaço de sociabilidade da classe média universitária, o teatro não precisou esperar a chegada do Ato Institucional Nº 5 para conhecer a mão cerceadora da ditadura.
Com estreia no Rio de Janeiro, a peça leva o nome do grupo que a organizou, uma trupe criada após o golpe e colocada na ilegalidade, formada por artistas antes ligados ao Centro Popular de Cultura (CPC), da União Nacional de Estudantes (UNE). O espetáculo contou com a direção de Augusto Boal, do paulistano e já consolidado Teatro de Arena.
“As nossas riquezas, as nossas carnes, as vidas, tudo! Vocês venderam tudo! As nossas esperanças, o nosso coração, o nosso amor, tudo! Vocês venderam tudo!”
“Terra em Transe”, de Glauber Rocha
O show, que iniciava a tradição dos musicais de protesto, buscava encontrar uma resposta para o novo regime na união de classes, política defendida pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), com o qual o CPC era alinhado. Numa decisão nada arbitrária, escolheu como protagonistas, nas primeiras encenações, Zé Kéti, João do Valle e Nara Leão — um sambista do morro, um camponês do norte e uma jovem da classe média. O trio interpretava canções do repertório de Valle, músicas da cultura popular e composições dos bossanovistas — entre elas, a música de Vinicius de Moraes, com melodia feita por Carlos Lyra.
“Nas mais diversas áreas da cultura, havia uma ideia de revolução brasileira que passava também pela utopia de aproximar os artistas e intelectuais do povo”, conta Marcelo Ridenti, professor do curso de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). “Usando a metáfora do Rio de Janeiro: aproximar a favela do asfalto”, explica Ridenti.
Um ano depois, outro espetáculo, Arena Conta Zumbi, sob a batuta do mesmo Boal, traria outra leitura do momento. A peça buscava, no Quilombo de Palmares e no líder do movimento, uma forma de dizer que as tentativas de alianças de classe, que pautaram a política do Partido Comunista Brasileiro até então, abriram espaço para o golpe militar. Ainda que com visões opostas, as duas peças ajudam a dar a largada para a resistência cultural dos anos seguintes.
“O monumento não tem porta/ A entrada de uma rua antiga, estreita e torta/ E no joelho uma criança sorridente, feia e morta/ Estende a mão”
“Tropicália”, de Caetano Veloso
A cultura toma a frente
Uma forma de entender o florescer cultural no início da ditadura militar é pensar na arte e na intelectualidade como, a um só tempo, os espaços que sobraram para a resistência — uma vez que os movimentos operários, camponeses e populares foram brutalmente combatidos desde os primeiros dias do regime — e o principal ambiente de uma análise de trajetória da esquerda vencida.
O governo de João Goulart representava uma guinada em direção aos interesses desse grupo e, o interrompimento dessa virada, ainda mais com pouca resistência do presidente, causou perplexidade. É o que explica Marcos Napolitano, professor do curso de História da Universidade de São Paulo, no livro Coração Civil (2017, Intermeios), que investiga a vida cultural brasileira no regime militar.
A obra, publicada originalmente em 2010, é valiosa por destacar um aspecto por vezes ignorado da resistência artística da época: foi um período marcado por pluralidade, com diversos grupos e artistas propondo diferentes formas de responder ao terror instaurado.
Os primeiros anos da ditadura militar, que antecedem o decreto do AI-5, são marcados por uma censura mais desarticulada. A lei de janeiro de 1946, que previa o controle das diversões públicas e havia sido decretada no primeiro ano do governo Dutra, era o único instrumento que o governo militar tinha à disposição, numa época em que ainda se buscava ares de legalidade para o golpe.
A arte engajada desse período se dividia entre a tentativa de continuar os projetos anteriores ao golpe e de processar a derrota da intelectualidade de esquerda, explica Napolitano, em entrevista à Babel.
“O chamado ‘nacional-popular’ de esquerda dava o tom na música e no teatro, principalmente. Nestas duas áreas, o tema da resistência era mais forte. No cinema, apesar das continuidades estéticas do cinema autoral que marcou o movimento do cinema novo, o tema era a “derrota” e os impasses vividos pelos intelectuais”, afirma Napolitano. “Na literatura, idem. Nas Artes Visuais, o figurativismo e a Nova Objetividade tentam responder ao dilema de conciliar experimentalismo e crítica à ditadura às novas realidades impostas pelos meios de comunicação de massa no campo cultural.”
O ecletismo e a busca de caminhos para a resistência artística pautaram a arte nacional engajada dos anos 1960. Na música, artistas como Geraldo Vandré, defensores das canções mobilizadoras, se opunham à contracultura tropicalista, que devorava elementos da cultura estrangeira e abraçava o iê-iê-iê da Jovem Guarda, tida por muitos como alienada e pró-situação.
Essas disputas invadiriam os festivais de música, organizados pelas emissoras Excelsior, na Record e Globo. O terceiro Festival de Música Popular Brasileira da Record, de 1967, é simbólico dentre eles por ter tido em seu páreo Ponteio, de Edu Lobo e Capinam, a canção vencedora, Domingo no Parque, de Gilberto Gil, Roda Viva, de Chico Buarque e Alegria, Alegria de Caetano Veloso.
Briga parecida percorria as outras artes. Plínio Marcos, Oduvaldo Vianna Filho e Augusto Boal, nomes de peso do teatro nacional, discordavam em pontos essenciais, como na defesa da luta armada, mas se uniam na rejeição ao trabalho de José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, do Teatro Oficina, e as encenações agressivas, vistas por muitos como prejudiciais ao projeto de conquistar o público para as lutas de resistência.
No cinema, Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha; Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos; e Os Fuzis (1964), de Ruy Guerra foram marcos do Cinema Novo, e Bandido da Luz Vermelha (1969), de Rogério Sganzerla, se tornaria um marco do Cinema Marginal. Os dois movimentos se opuseram, porém ambos tinham atrito com um terceiro movimento, um cinema engajado mais tradicional, defendido por artistas ligados ao CPC da UNE.
“A partir de 1968, essa crítica cultural se radicaliza, com o Tropicalismo, que coloca em xeque as bases da arte engajada de esquerda e a visão essencialista da cultura brasileira, também compartilhada pela direita. O ano de 1968 é marcado por um grande debate sobre os rumos da arte engajada, tanto no plano dos temas e abordagens, como no plano estético”, diz Napolitano.
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé e Gal Costa, tropicalistas, e também Os Mutantes de Rita Lee e a bossanovista Nara Leão lançam, em julho do mesmo ano, Tropicália ou Panis Et Circenses, disco-manifesto do movimento de contracultura. O álbum tomou seu nome da instalação de Hélio Oiticica, um dos nomes mais inventivos das artes plásticas da época, cujo projeto conversava com o dos músicos.
“Num país medieval como nosso, quem se atreve a passar os umbrais da eternidade sem uma vela na mão? Herdo um tostão de cada morto nacional!”
“Rei da Vela”, de Oswald de Andrade
Um ano antes, o Teatro Oficina, grande representante da contracultura e do tropicalismo nas artes cênicas, levava pela primeira vez ao palco O Rei da Vela, peça irreverente escrita em 1933 por Oswald de Andrade. A encenação despertou o interesse da classe média e incendiou a cena cultural, dividindo artistas e intelectuais entre os interessados na agressividade da trupe e os que a viam como leviana e alienada.
O restante da contracultura foi alvo de críticas parecidas vindas da esquerda nacionalista, principalmente dos setores ligados ao Partido Comunista Brasileiro.
O ano de 1968, no entanto, foi marcado por outro grande acontecimento na história brasileira. No dia 13 de dezembro, o presidente Artur da Costa e Silva decretou o Ato Institucional Número 5, abrindo a era mais repressiva da ditadura militar.
O AI-5 permitiu que o presidente retirasse os direitos civis de quaisquer cidadãos, interviesse em estados e municípios e cassasse mandatos do legislativo. Munida de novos poderes, a ditadura entrou num momento ainda mais agressivo de censura e cerceamento de liberdades.
“O AI-5 atinge todas as manifestações e correntes engajadas, seja o campo nacional-popular, sejam as vanguardas mais radicais. A censura recairá sobre todos. Ao mesmo tempo, se aprofunda a percepção dos impactos da modernização no campo cultural, com a televisão e a indústria cultural como um todo sendo o espaço de atuação destes artistas, que já não podiam atuar em movimentos sociais ou sindicatos”, diz Napolitano.
“A gente quer ter voz ativa/ No nosso destino mandar/ Mas eis que chega a roda viva/ E carrega o destino prá lá”
“Roda Vida”, de Chico Buarque
Novo cenário, novos caminhos
Após o decreto do AI-5, o experimentalismo radicaliza, com o Cinema Marginal, o Conceitualismo e outras vanguardas mais radicais. “Para estes, era preciso reinventar as formas e a função da arte na sociedade, ao mesmo tempo que se combatia o moralismo imposto pela ditadura”, conta Napolitano.
“Muitos artistas tiveram que fugir do Brasil porque estavam sendo perseguidos. A repressão que era forte se tornou quase insuportável, quebrando esse florescimento cultural que vinha desde o começo dos anos 1960”, complementa Ridenti.
Após o decreto, os artistas tiveram que encontrar respostas para o novo momento do país. No começo dos anos 1970, rusgas entre criadores de tendências diferentes atenuaram-se, ainda que nunca tenham sumido completamente. Nessa época, o artista engajado — e a arte que buscava representar o popular — precisam se adequar à modernização que mudava a face do país, e o experimentalismo passa a ser mais aceito entre essa vertente.
“Por volta de 1972 o tema da frente cultural ganha espaço, unificando todas as correntes, defendidas sobretudo pelo PCB. Há uma volta ao teatro realista, às canções de denúncia, ainda que a partir de letras sutis e alegóricas, em muitos casos, e aos filmes com temática sociológica, representando microcosmos autoritários”, explica Napolitano.
Esse seria o cenário da arte até a abertura, a partir de 1979, momento em que a arte busca se aproveitar de uma maior liberdade recém conquistada, com o abrandamento da censura, para intensificar seu diálogo com as massas.
Por outro lado, para Napolitano, “explode o caso das ‘patrulhas ideológicas’, à medida que muitos artistas reclamam mais liberdade para criar, sem seguirem uma estética engajada moldada ainda nos anos 1960, como defendia a esquerda mais ortodoxa.”
“Neste momento, também temos a crise do campo ‘nacional-popular’ e a busca de novas bases conceituais e estéticas para orientar a arte engajada, como as vanguardas, a contracultura, e a cultura popular fora do mercado”, aponta Napolitano.
Rock, punk e black music entram em cena. O movimento operário cresce, enquanto a hegemonia cultural da esquerda é posta em cheque. Com a abertura política, um novo cenário, com novos problemas e novas respostas, emerge.