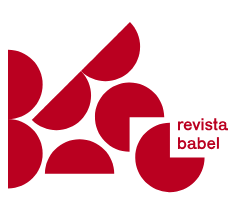“O capitão Maurício Lima disse: ‘Agora você vai morrer, você já deu o que tinha que dar, agora você vai morrer.’ Pensei: ‘Graças a Deus’. Realmente, ele achou que estava me dando uma má notícia, mas era uma ótima notícia”. Este é o relato de Carlos Russo Júnior, ex-membro da Ação Libertadora Nacional (ALN), sobre a intensa tortura que sofreu por agentes do Estado durante a Ditadura Militar do Brasil.
Passados 60 anos do golpe que ceifou a democracia no país por 21 anos, grupos da sociedade relativizam os horrores do período — e até pedem seu retorno. Diante de apagamentos e distorções, o Brasil ainda precisa enfrentar a memória e responder a questões deste intervalo histórico tão recente e violento, como o reconhecimento do papel do Estado nas mortes e desaparecimentos e as implicações da censura na vida política do país.
Dos instrumentos públicos para a preservação da memória, provavelmente o mais importante foi a Comissão Nacional da Verdade (CNV), instituída no governo Dilma Rousseff, em 2012. O dispositivo visava investigar as graves violações de direitos humanos praticadas por agentes públicos ou pessoas a serviço de instituições governamentais, com apoio ou interesse no Estado, entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. O relato de Russo foi um dos coletados no levantamento.
O órgão foi criado por lei e previa somente a existência, mas, em função das atividades, passaram a ser fundadas outras comissões em estados e municípios. Seja por atos governamentais, legislativos, iniciativas de universidades ou da sociedade civil, diversos grupos emergiram em um esforço para documentar não apenas os dados, mas as histórias das vítimas e das respectivas famílias.
A CNV reconhece 434 mortes e desaparecimentos políticos durante o regime militar. Porém, “os números verdadeiros, certamente, são maiores”, afirmou Pedro Dallari, coordenador e relator da comissão entre 2013 e 2014. “Escrevemos isso no relatório final: que não era nem o começo nem o fim das apurações”, completou.
Na conclusão, o colegiado propôs 29 recomendações para que não se repitam as crueldades registradas na época. No entanto, apesar de entendê-las como “robustas e consistentes”, Dallari reconhece que a maior parte não foi cumprida. Segundo dados do Instituto Vladimir Herzog, apenas 2 sugestões foram colocadas em prática e 6 parcialmente realizadas, somando aproximadamente 28% do total.

As raízes do problema
É praticamente unanimidade entre os estudiosos da Ditadura Militar que a impunidade daqueles ligados aos crimes cometidos no período é a principal raiz da problemática envolvendo a memória no Brasil. Em 1979, a Lei da Anistia foi aprovada, mas não serviu somente para os presos políticos, exilados e todos que tiveram seus direitos suspensos, também contemplando os militares.
No cenário internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou que a Lei da Anistia impedia investigações e punições contra as graves violações do regime. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou e negou o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por uma revisão na legislação.
Em 2008, o Ministério Público Federal de SP ajuizou a primeira ação civil-pública contra a União e dois militares acusados de assassinatos e torturas, o coronel Brilhante Ustra e o coronel Audir Maciel. No mesmo ano, Ustra foi apontado pela Justiça como culpado por crimes de tortura e, em 2012, condenado a pagar indenizações por danos morais.
O torturador nunca foi preso e faleceu aos 83 anos em decorrência de problemas de saúde. Suas filhas recebem até hoje do Estado uma pensão de mais de 15 mil reais cada. Estima-se que ele é responsável por 60 mortes e 500 vítimas de tortura.
A exemplo de tamanha negligência processual, a primeira vez que a justiça condenou penalmente um agente da ditadura pela participação na repressão foi em 2021. Carlos Alberto Augusto, delegado aposentado do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) de São Paulo, foi condenado a dois anos e 11 meses de prisão pelo sequestro e cárcere privado de Edgar de Aquino Duarte, desaparecido desde 1971.

Veias abertas
Em outros países da América Latina, essa história foi diferente. No Chile, que viu o fim da ditadura sanguinária de Augusto Pinochet em 1990, a Suprema Corte decidiu, em 1998, que a Lei da Anistia não poderia ser aplicada aos casos de violações de direitos humanos. Durante seu governo, pelo menos 40 mil pessoas foram executadas, desaparecidas e torturadas pelo Estado por motivos políticos, revelam dados do relatório da Comissão Valech.
Já a Argentina conseguiu condenar 500 agentes que participaram da ditadura e mataram 30 mil pessoas, relembrou César Novelli, membro do Núcleo de Preservação da Memória Política (NM).
No caso dos argentinos, a historiadora Carla Teixeira aponta que o regime foi muito mais violento do que no Brasil. “A ditadura brasileira manteve uma série de instituições em funcionamento, o rasgo no tecido social na Argentina foi mais evidente. [Com a redemocratização] os generais foram presos, a população foi às ruas pedindo para que fossem mortos”, ela explicou. “A nossa abertura lenta, gradual e segura. Garantiu um controle do processo de transição para os militares”, acrescentou a pesquisadora.
De frente com nossos fantasmas
Com raízes comprometidas, poucos espaços de memória floresceram no Brasil. O único museu dedicado ao período é o Memorial da Resistência de São Paulo, sediado no lugar onde funcionou, entre 1940 e 1983, o DOPS de São Paulo, uma das polícias mais truculentas do país.
Em comparação, a Argentina possui cerca de 36 lugares identificados como “sítios de memória” e ligados à última ditadura cívico-militar. A maioria são ex-centros clandestinos de detenção que foram transformados em espaços de cultura. Os visitantes podem até mesmo observar como funcionavam os centros de tortura.
Mas é o Chile que possui um dos mais impressionantes museus de memória do mundo: o Museu da Memória e Direitos Humanos. Lá estão mais de 140 mil documentos, 39 mil fotos, centenas de depoimentos em vídeo e objetos dos desaparecidos durante a ditadura militar chilena. Quem visita pode pesquisar desde as sentenças judiciais até os lugares de detenção e as vítimas.
Já no Uruguai, o Centro Cultural e Museu Memória fica na capital e tem uma exposição permanente com objetos, fotografias e documentos. As salas contam todo o processo ditatorial — desde a instauração até a redemocratização — passando pela resistência, pela repressão e pelas histórias que até hoje não foram concluídas.
No Brasil, além da falta de espaços de preservação, as homenagens aos ditadores em nomes de ruas, avenidas e edificações continuam numerosas. A Ponte Rio-Niterói, que liga as duas cidades, é popularmente conhecida assim, mas o nome oficial é outro: Ponte Presidente Costa e Silva. Segundo dados do portal Agência Pública, são aproximadamente 160 km homenageando os que resistiram à ditadura contra mais de 2000 km de vias que fazem referências aos algozes. Na Marginal Tietê, em São Paulo, a Avenida Castelo Branco fica a menos de 500 metros da rua Vladimir Herzog, que homenageia o jornalista torturado e morto em 1975.
Ainda que esforços como a mudança do nome do “Minhocão” de Elevado Costa e Silva para Elevado Presidente João Goulart tenham sido realizados, a estrada para se percorrer ainda é longa.
Nesse sentido, em abril deste ano, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou uma proposta que impede o governo federal de batizar rodovias, edifícios e bens públicos da União com nomes de agentes públicos que violaram direitos humanos durante a ditadura militar. O texto também define que bens da União já batizados em homenagem a criminosos elencados pela CNV deverão ter os nomes alterados em até seis meses. A proposta segue para discussão na Comissão de Educação da Casa e depois vai diretamente para análise da Câmara dos Deputados.

Presente e futuro
O apagamento das memórias da repressão nas décadas de 60, 70 e 80 tem efeitos maléficos para o hoje e o amanhã do país. Dentre eles, a eleição de governos que flertam com o fascismo e a continuidade da tortura e das violações aos direitos por alguns grupos de agentes públicos em periferias, Novelli listou.
A exaltação do regime se agravou durante a gestão de Jair Bolsonaro. Antes de ser chefe do Executivo, o ex-presidente, na época deputado, chegou a proferir exaltações, em pleno Congresso, à Ustra no julgamento do impeachment de Dilma Rousseff, que foi torturada pelo criminoso no início dos anos 1970. Ainda parlamentar, não sofreu nenhuma consequência legal. O político já havia dito que “o erro da ditadura foi torturar em vez de matar”. Mesmo assim, foi eleito com 55% dos votos em 2018.
O cenário despertou em muitas pessoas a dúvida se, realmente, há esperança por uma maior conscientização acerca da memória do período. Entretanto, de acordo com pesquisa do Datafolha, 63% dos brasileiros acham que a data de aniversário do golpe deve ser desprezada, enquanto 28% acreditam que deveria ser comemorada. Entre as possíveis medidas a serem tomadas na atualidade, a principal demanda é o restabelecimento da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos.
Instituída em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, a Comissão foi encerrada por Bolsonaro em 2022. Sua retomada foi prometida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante as eleições, mas desde que assumiu o poder, em 2023, não deu andamento ao projeto.
“É algo que se o governo não fizer, ninguém tem condições jurídicas de fazer. É restaurar os mecanismos que permitam a identificação de informações sobre o destino dado a esses mortos e desaparecidos políticos cujos restos mortais se desconhecem”, afirmou Dallari. “Outro aspecto relevante é a luta pelo cumprimento da promessa da campanha do Lula de criar o Museu da Democracia, que não saiu”, lembrou Teixeira.
Mais um exemplo de atuação é o Núcleo de Preservação da Memória Política (NM). Criado por ex-presos políticos em 2009, o instituto tem o objetivo de preservar a memória daqueles 21 anos e dar visibilidade ao que foi o período. “Isso acontece por meio de ações de educação e direitos humanos, como visitas guiadas ao antigo DOI CODI de São Paulo, o projeto Sábado Resistente com o Memorial da Resistência, os cursos e visitas a escolas e universidades”, detalhou Novelli.
Além disso, o NM também busca a criação de mais lugares de memória. O grupo tem trabalhado na construção do Memorial da Luta pela Justiça Social no local onde funcionavam as antigas auditorias militares de São Paulo, que julgavam os presos políticos acusados pela Lei de Segurança Nacional. “Estamos trabalhando com a OAB para abrir em 2026, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio”, revelou Novelli. O núcleo também integra um grupo de trabalho que luta desde 2018 para construir um memorial no DOI CODI.