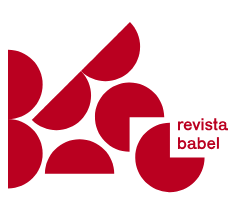A falta da exposição das dificuldades da maternidade gera um silenciamento coletivo que aprisiona mães em pressões sociais.
Por Mariana Cotrim e Samantha Prado
“Maternidade compulsória” é o termo que define a ideia de que mulheres são incompletas sem filhos. Gerar descendentes é visto como um passo essencial de suas vidas, não cumpri-lo é estar obrigatoriamente desajustada às “leis naturais”. A ideia de compulsório vem diretamente de compulsão – ou seja, a perda da autonomia da decisão. Essa é uma pressão invisível, condicionada às meninas desde seus primeiros momentos na infância.
Nesse contexto, tornar-se mãe tem um teor que passa longe de poder ser classificado como uma liberdade – e essa característica atravessa diferentes esferas. Criar crianças em um mundo no qual o cuidado não é um ofício remunerado e homens ainda não se sentem responsáveis pela carga mental e física desse exercício é um trabalho exaustivo e sem fim.
Não há infraestrutura suficiente em creches públicas e horários compatíveis com trabalhos formais, reforçando estereótipos que diminuem a capacidade feminina de dedicar-se ao mundo do trabalho. Quando não há estrutura de apoio, sempre são outras mulheres encarregadas do cuidado das crianças – nunca homens. Locais públicos não são preparados para crianças, o que empurra mães e filhos ainda mais para dentro de suas casas. Nosso país é marcado pela violência de não dar opção para mulheres escolherem sobre a viabilidade de suas gravidezes, e mesmo assim é um território com taxas altíssimas de violência obstétrica. Nesse ambiente hostil, mulheres mães sentem-se solitárias e, muitas vezes, pressionadas a gostar dessa maternidade que inviabiliza suas individualidades.
Leia mais:
Brasil, o país que mais matou grávidas em meio à pandemia
“Não amava o meu bebê; quase o matei”
Evidentemente a experiência de ser mãe é extremamente multifacetada e subjetiva – porém todas elas existem dentro do contexto de exigências e sobrecarga que recaem sobre as mulheres, ao mesmo tempo que as pressiona a gostar dessa maternidade que as exclui, gerando culpa por terem emoções conflitantes em relação ao exercício de ser mãe. Nos últimos anos, porém, algo tem mudado: inúmeras mulheres têm encontrado abertura para manifestarem suas experiências de maneira mais real, quebrando parte do grosso silenciamento que ainda recobre a maternidade. Entre redes sociais, grupos privados e redes de apoio, elas compartilham suas mais diferentes vivências e sentimentos em relação ao cotidiano do trabalho materno. Esses compartilhamentos, porém, nem sempre são bem vistos pela sociedade – que até aceita um reconhecimento ou outro das dificuldades de ser mãe, mas nada muito mais profundo que isso. Aquelas que ousam “ultrapassar limites” sofrem represálias.
Uma dessas vozes é a de Karla Tenório, criadora do grupo Mãe Arrependida. Com o intuito de dar voz às dores e problemáticas da maternidade, o perfil no Instagram conta com quase 30 mil seguidores e compartilha relatos semanais para que mulheres possam desabafar entre si e se acolherem. O ponto de partida dessa construção foi a própria aceitação de Karla como uma mãe arrependida: “eu sempre fui uma mãe arrependida, mas pra falar isso pra você desse jeito, com essa cara dura, eu precisei de muito trabalho pra me auto aceitar”.
A atriz conta que sua jornada com a maternidade, ao contrário do muitos esperam, foi muito desejada e idealizada. Karla descobriu que queria ser mãe em uma viagem que fez à Índia: “nunca tive o perfil de mãe, mesmo depois de casada, mas sempre fui muito espiritualista. Em 2008 fiz a viagem e ali, meditando no Rio Ganges, tive uma visão na qual eu ficava grávida, abria meu ventre para poder parir”. A partir de então, ela começou a se preparar: meditava muito, fazia aromaterapia, estudava partos em casa – passou cerca de um ano se planejando, entrando em um molde de idealização de “mãe divina”, segundo ela. “Por incrível que pareça, eu descobri que estava grávida mais ou menos no mesmo dia um ano depois, quando estava na Índia de novo. Eu fiquei muito feliz, minha gravidez foi iluminada, fiquei uma grávida maravilhosa”, conta.
As coisas mudaram, porém, no seu momento de dar à luz. Karla diz que o exato instante em que percebeu que não queria ser mãe, foi quando a cabeça de sua filha saiu no parto: “algumas pessoas se assustam, ficam sem graça quando eu conto, mas essa é a verdade: a cabeça saiu e eu tive meu primeiro arrependimento não cognitivo. Foi um arrependimento instintivo, costumo dizer que senti nas minhas células e aí pensei instintivamente ‘cara, fudeu’”.
O choque de realidade que teve início no parto, prolongou-se nas suas experiências seguintes, levando Karla a entender que nada do que ela tinha lido e se preparado até aquele momento era verdade. “Nos próximos dias, após o parto, você só sente dor. Mesmo que tenha sido pela vagina ou pela barriga. O meu parto foi normal, em casa e com uma parteira. Não tive anestesia, não cortei o períneo e nem nada, mas doeu para um cacete. Foi extremamente traumatizante. Você precisa de um tempo para se recuperar mentalmente, psicologicamente, e isso não existe. Na hora seguinte a criança já tá chorando porque tá respirando mal, porque precisa de comida, ela já tá fazendo cocô… então você fala ‘gente, o que aconteceu?”, relata ela.
A atriz conta que a falta de referência para essa nova realidade que estava enfrentando, a fez sentir-se traída por todas as mulheres que já haviam parido antes dela. “Eu considero que fui muito ingênua, inocente, burra em realmente acreditar que a criança nasce e dá tudo certo. Não existe essa realidade na literatura. Eu lia que a criança nasce e o amor é incodicional. Ou isso é coisa de mãe iluminada ou essa pessoa tá se enganando. Quando o bebe nasce, você perde um lugar na sua história. Aquela que você era antes, morreu. Você passa a ficar cada segundo ligada às necessidades daquela criança”, diz Karla.
Uma das poucas exceções literárias que trazem à tona os lados mais complexos do exercício materno é a obra A maternidade e o encontro da própria sombra, da autora argentina Laura Gutman. O livro trata de aspectos da psique feminina que são desvelados com a chegada dos filhos, abrindo a possibilidade de reformular ideias preconcebidas e autoritaritarismos encarnados em opiniões discutíveis sobre a maternidade, criação, educação e formação de vínculos entre adultos e crianças. Karla conta que só descobriu a obra após ter tido sua filha, quando já estava imersa na dor.
A partir de então, a idealizadora do Mãe Arrependida começou a notar a existência de um código de silenciamento entre as mulheres à sua volta: “solidão e traição foi o que eu senti, eu não podia falar nada porque as mulheres tinham um silenciamento. Para cada mãe que passava, eu ficava com aquele olhão, esperando que alguém me falasse ‘olha, eu to fodida também. Você quer conversar sobre isso?’. Mas não, elas passavam por mim e diziam ‘ah é um amor tão grande né?’ e eu respondia ‘nossa, muito’, mas falava para mim mesma ‘fodeu, eu sou um monstro’. Aí começou meu processo de me achar uma monstra, entende?”.
Karla conta que os primeiros meses com sua recém nascida foram duros. A bebê passou sete meses ininterruptos sem dormir, realizando cochilos de 10 a 15 minutos a cada 24 horas, o que a levou a um estado psicótico.
A psicose pós-parto é um distúrbio psiquiátrico que pode atingir mães após algumas semanas de dar à luz. Rara, ela acomete uma a cada mil pessoas – em comparação à depressão puerperal que atinge uma a cada cinco mulheres – e pode levar a alguns sintomas como alucinações e sensação de desconexão com o bebê. Gravidez tardia, privação de sono, histórico de transtorno bipolar e de casos anteriores de psicose na família são considerados fatores de risco para desenvolvimento do distúrbio. “Foi um momento muito difícil. Fisicamente eu tinha lapsos de tempo, então eu estava aqui, piscava e já era de noite. As vezes eu achava que estava dando de mamar, mas ela não estava no meu peito. Isso durou vinte dias, um mês no máximo, por conta da falta de sono e do trauma do parto”, compartilha Karla.
A atriz conta que, muito amedrontada, passou a anotar tudo o que fazia como uma técnica para se manter presente. “Eu anotava absolutamente cada segundo que se passava. ‘Mamou 3 minutos no peito esquerdo, mamou 30 segundos no peito direito, fui na geladeira pegar água, fui ao banheiro’. Ficava com o relógio de um lado e a caneta com o caderno do outro. Isso foi me ajudando, mas era muita tristeza. É como se eu estivesse dentro de um buraco, um vazio muito grande, e gritando por socorro, mas ninguém me ouvia”, diz ela.
Apesar de se sentir uma mãe arrependida desde o parto, Karla conta que passou por um longo processo de aceitação. “A verdade é que até hoje eu não me curei, não tem salvação. As pessoas veem que amo minha filha, que a gente tem uma vida saudável e muito bacana e me perguntam se agora eu não sou mais arrependida. Eu falo que não é assim que as coisas funcionam. O que está acontecendo é uma autoaceitação”, declara a atriz.
O projeto Mãe Arrependida nasceu por força da própria natureza, segundo sua idealizadora. Karla diz que optou por ser radicalmente honesta com sua filha e, com seu entendimento e apoio, deu início à peça que leva o nome do movimento. “Fiz o teatro de forma online, por conta da pandemia, e foi super legal, foi um grito de catarse. Era um espetáculo de curta temporada, até porque era uma peça muito forte, nem todo mundo entenderia”, conta ela.
Apesar da excelente repercussão no meio cultural – sendo inclusive considerado pela Virada Cultural uma nova forma de fazer teatro – Karla diz que o impacto da peça não foi muito abrangente, muitos achavam que a situação de mãe arrependida era uma experiência pessoal e não algo que pudesse ser compartilhado. “Quase ninguém levou muito em consideração, achavam que era uma coisa minha. Até amigas próximas que me deram força e tudo mais não conseguiam entender. Eu compreendi como algo novo chegando e muito difícil de ser digerido pela própria mulher, pela própria mãe”, diz ela.
Tudo mudou, porém, em maio deste ano, quando sua história e seu projeto foram noticiados em um depoimento para o Uol Universa sob o título “Detesto ser mãe e ajudo outras mulheres a lidar com esse sentimento”. Após a liberação da matéria, Karla diz que recebeu uma enxurrada de mensagens: “quando vem um veículo e te reconhece, aí é como se tivesse liderado você a assumir, entende? Então até mulheres que antes achavam que ser uma mãe arrependida era algo muito subjetivo meu, vieram falar ‘agora entendo completamente’. Depois dessa matéria, centenas de milhares de pessoas vieram até mim falar”.
Por conta disso, Karla compreende que o movimento nasceu da necessidade das pessoas de refletir e desabafar sobre aquilo: “não fui eu que criei o movimento, ele que nasceu porque foi uma necessidade”. Apesar disso, ele não foi muito bem recebido por certa parcela da sociedade. A atriz relata ter sofrido diversos ataques após a publicação da matéria. “Fui ameaçada de morte, xingada de todos os nomes, ‘diagnosticada’ por diversos profissionais com transtorno narcisista, minha filha foi dada como uma futura deprimida e suicida… Foi, assim, absurdo”, conta.
O movimento chegou até mesmo a chamar atenção de grandes personagens do governo Bolsonaro, incluindo a ativista Sarah Winter e o deputado Eduardo Bolsonaro que realizaram comentários nas redes sociais. Em meio a tantos ataques, Karla foi diversas vezes taxada como anticristo para alguns e como salvadora para outros, mas a idealizadora diz que não identifica seu projeto em nenhum desses papeis. “Eu sou só o que sou, tô no meu processo. Acredito que cada pessoa quando se converte para seu próprio processo de cura, ela cura a sociedade – independente da bandeira que for. Eu entendo que minha bandeira é um tabuzão, mas não esperava, de verdade, tanta repercursão”, diz ela.
Dentre tantas mensagens incomodadas que Karla recebe, várias incluem mulheres que dizem diagnosticá-la com algum transtorno psiquiátrico, encaixá-la em algum tipo de anormalidade como uma forma de afastamento das suas ideias. “Eu sinto que teve uma reação das mulheres que são arrependidas e não tem coragem de assumir. Muitas mães têm essa pegada de se mostrarem muito guerreiras e maravilhosas, mas a vontade que elas têm é de mandar todo mundo para os ares. Aí vem alguém, fala isso abertamente e elas ficam ‘como assim? Eu to aqui há décadas com esse peso, fingindo que gosto de ser mãe e você diz que pode se assumir mãe arrependida desse jeito?’”.
Outra caixinha que muitos tentam encaixar a idealizadora do movimento, é de uma ex-mãe arrependida. “Alguns caem nessa asneira de me salvar, de dizer ‘ah, mas agora você não é mais arrependida, né?’ e eu sempre respondo que não é assim que funciona. O que acontece não é uma salvação, é um processo de auto aceitação que faz a culpa sair do sistema. A culpa é o grande denominador comum nessa ética cristã que vivemos e que aprisiona os corpos femininos, mais propriamente os corpos das mães”, diz ela.
Justamente por isso, não é uma surpresa a quantidade de ataques que Mãe Arrependida recebe de pastores e de outras entidades religiosas: “é importante, pela ética cristã, que uma mãe sinta culpa, porque assim ela fica mais conformada. Imagina uma mulher que não tem culpa do seu arrependimento e deixa o filho ser criado pela avó ou pelo pai, ela é vista como uma mulher perigosa”.
Para Karla, a aceitação como mãe arrependida passa não pela inviabilização da vida dos filhos, mas por um auto perdão que leva à lucidez de que o arrependimento em nada tem a ver com a criança e sim com o sistema no qual estamos inseridos. “Essa culpa é difícil porque uma mãe que não tem a maturidade de separar essas coisas, começa a depositar essa frustração na criança e pode se tornar abusiva. Quando ela não consegue separar o que é estrutura, o que é esse peso do patriarcado, ela vai colocar a culpa na criança”, diz a idealizadora do projeto.
Desde novembro de 2020, a conta no Instagram @maearrpendida já conta com mais de 29 mil seguidores e, há cinco meses, compartilha cotidianamente relatos de mães que optam pela sinceridade de compartilhar suas experiências e situações de vida. Karla conta que nesse período do projeto já viveu inúmeros momentos marcantes e que, na maioria das vezes, são pesados de lidar. “Infelizmente é muito cruel a realidade das mulheres, a maior parte em vulnerabilidade social e psicológica. A maioria absoluta são mães solos, que passaram por abandono dos maridos, sofrem violência doméstica… é muito difícil. Eu faço amizade com essas manas, entro em contato com elas, nunca fica só ali no Instagram”.
Ela conta que uma situação forte que passou nos últimos meses, foi o recebimento de mensagens de uma mãe dizendo que pretendia se suicidar. “Recebi mensagem dizendo ‘vou me matar’ eu falei peraí, vamos conversar. Ela não se matou, mas está num estado super grave. Conseguimos psicóloga para ela, mas é uma condição muito complicada. Tudo o que eu tô aqui te falando agora passa por escolaridade, por acesso a terapia… Imagina essas mulheres que nascem num nível de vulnerabilidade e de violência que é a realidade da maior parte do Brasil. Para conseguir sair dessa areia movediça não é apenas uma questão de escolha, tem algumas mães que não tem nem noção de como conseguir sair dessa situação”, conta Karla.
E, de fato, é impossível ignorar a maneira como a desigualdade social no país abala as estruturas familiares e, em especial, as condições de vida das mães. O ano de 2020, em especial, foi um período de retrocesso histórico para as latino-americanas em termos financeiros e profissionais acarretados pela pandemia. No Brasil, o oitavo país mais desigual do mundo, quase 8,5 milhões de mulheres saíram do mercado de trabalho no terceiro trimestre do ano – atualmente, sua participação representa o nível mais baixo em três décadas segundo o IBGE. Dados divulgados pelo relatório das ONGs Gênero e Número e da Sempreviva Organização Feminista (SOF), revelam que 50% das brasileiras passaram a cuidar de outra pessoa durante a pandemia. Quase 40% das entrevistadas afirmaram que o isolamento social colocou em risco o sustento da família – afetando especialmente mulheres negras, que representavam cerca de 55% das impactadas.
Nessa equação, as mais de 11,5 milhões de mães solo no país enfrentam maiores riscos e dificuldades na questão financeira, mas também nos impactos psicológicos da sobrecarga de tarefas. Líderes comunitárias do Rio de Janeiro, responsáveis pelo projeto Segura a Curva das Mães, relataram em entrevista ao jornal BBC News Brasil a complexidade das circunstâncias atravessadas por mães em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia. “Todo dia chega para mim alguma mãe com pensamento suicida sério, ou alguém dizendo ‘fala com aquela mãe, que ela não tá bem”’, relatou Thais Ferreira, uma das ativistas engajadas no projeto criado em meio a crise da Covid-19. Em sua avaliação, cerca de 80% das mulheres acompanhadas pelo projeto precisam de apoio psicológico com urgência.
Por fim, Karla enfatiza que o movimento Mãe Arrependida em nada se relaciona a uma apologia ao ódio da maternidade: “muito pelo contrário, eu amo a minha filha. Esse é um movimento de conscientização, de apropriação da mulher do seu corpo feminino e, acima de tudo, um movimento de expressão. Só queremos poder ser honestas e desabafar para que essa culpa saia do sistema e não recaia sobre os nossos filhos. O que me preocupa nisso tudo são as crianças, para que elas não sejam culpadas pelos seus nascimentos”.
A maternidade real está muito longe da maternidade idealizada
No Brasil, mulheres com filhos se sentem culpadas, cansadas e distantes do estereótipo de mãe perfeita. Essa é a conclusão do estudo “A Nova Mãe Brasileira”, realizado através de uma parceria entre o Instituto QualiBest e o blog Mulheres Incríveis, em 2016.
Das entrevistas, 46% afirmam que não se identificam com a ideia de “mãe perfeita” – sempre felizes, multitarefas, guerreiras e que vencem todo tipo de sacrifício por seus filhos. 41% delas também admitiram não se sentirem representadas pela imagem da mãe na mídia em filmes, novelas e redes sociais – como é o caso das influenciadoras digitais. “A maternidade é complicada, principalmente nos dias de hoje, quando existem várias mães influencers, mostrando uma maternidade que não existe, mostrando apenas o lado bom”, concorda Larissa Belinati, hoje mãe solo de uma menina.
Já Carolina Bezutt conta que não demorou muito para se deparar com o abismo de diferenças entre a realidade e o mundo materno apresentado pela mídia: “a minha relação com a maternidade mudou quando descobri que ser mãe não tem nada a ver com aquela fantasia das capas de revistas, sites, blogs, influencers e tudo mais”. Ela conta que ao longo da sua experiência passou a notar que o exercício de ser mãe pode ser muitas vezes limitante. “Descobri que a maternidade é uma luta diária, é uma situação na qual a gente tem que viver e sobreviver. A mãe não pode ficar doente, não pode marcar um compromisso sem ter a certeza que alguém possa ficar com o bebê, buscar na escola, ajudar na alimentação… Tudo é muito diferente da maternidade que a gente vê em que a mãe sai para trabalhar e leva tranquilamente o filho para a escola. Eu até tentei ir por essa linha, mas quando eu me deparei com os preços de uma escola, o ensino, tudo isso… Foi aí que tive a maior decepção com a maternidade”, relata ela.
Essa ausência de identificação entre a realidade e a imagem do “ser mãe” é um dos principais motores da criação do movimento de maternidade real – algo que tem se disseminado principalmente pelas redes em forma de grupos de apoio. Para essas mães, a oportunidade de compartilhar e admitir as dificuldades do mundo real e de suas experiências não é apenas uma forma de ajuste de expectativas, mas também uma maneira de se sentirem mais livres. “Para mim é uma forma de liberdade porque, em outros tempos, mulheres que diziam ter dificuldades eram vistas como mães relapsas, mães que não amavam os seus filhos. Então poder dizer que tem perrengue, que tem hora que a gente fala ‘meu Deus, onde eu tava com a cabeça?’ isso é uma forma de liberdade. Não significa que a gente não ame nossos filhos, mas que passamos por apuros também, que dá vontade de sentar e chorar como eu já fiz debaixo do chuveiro”, conta Alessandra Aparecida. Apesar das dificuldades, a técnica de enfermagem faz questão de ressaltar que a maternidade lhe deu uma nova perspectiva de vida: “vieram meus três filhos e então tudo mudou. Eu larguei minha carreira e me dediquei, e ainda me dedico, exclusivamente aos meninos. A maternidade foi uma direção na minha vida, sabe?”.
Angélica Amarantes também vê o compartilhamento das dificuldades maternas da mesma forma: “é necessário se expressar mesmo porque nem tudo é um mar de rosas. A gente tem que reformular um monte de coisa, reaprender muita coisa. Essa história antiga de que ‘ser mãe é padecer no paraíso’, que a maternidade é uma coisa maravilhosa 100% do tempo, isso é realmente um mito”.
Em meio a esse movimento de encontrar liberdade nas confissões das dificuldades maternas, “amo meus filhos, mas odeio ser mãe” tornou-se um testemunho comum entre muitas mulheres. Ainda que mal compreendida por muitos, a frase abrange a necessidade radical de desmistificação da maternidade – o carinho, o cuidado e o amor pelos filhos não tem uma ligação direta com o exercício de ser mãe em si. “Eu odeio ser mãe por conta da responsabilidade que tenho de cuidar de um ser que depende de mim. Não é algo que eu gostaria de estar fazendo, mas faço porque Deus me concedeu essa dádiva”, declara Roberta Silva*. Ela conta que não queria ser mãe e que não sente prazer em realizar as cansativas jornadas diárias de cuidado, mas que isso não afeta o amor por suas crianças: “eu não gosto dessa coisa de ser mãe, mas amo os meus filhos porque saíram de dentro de mim. Tenho muito amor, muito carinho por eles, mas não gosto de fazer a mesma coisa todos os dias e viver esse extremo cansaço”.
Amanda Oliveira conta que também se identifica com a frase, especialmente por sua experiência com a maternidade ter sido solitária. “Eu amo meus filhos, mas eu odeio a maternidade, odeio mesmo. É muito sofrido para mãe, sabe? Eu, em especial, não tive a avó deles para me ajudar. Ela mora em Curitiba e eu morava em São Paulo, então ela ficou comigo até a bebe completar 21 dias e depois eu tive que assumir toda a responsabilidade”, relata. Ela também conta que seu ex-marido nunca foi um pai presente, o que tornava a experiência ainda mais difícil: “ele não me ajudava. Eu passava várias noites sem dormir, chorava porque meus seios inchavam e eu não conseguia tirar o leite, tinha febre. Isso me deixou muito traumatizada. E todo mundo falava ‘ah é lindo a maternidade’, mas eu não vi nada de lindo”.
Ainda segundo a pesquisa “A Nova Mãe Brasileira”, outra mudança significativa pode ser vista na maneira como as mães veem a si mesmas em relação à maternidade. Enquanto 51% das entrevistadas identificaram-se com a opção “a mãe que ama seus filhos, mas também ama seu trabalho, seu parceiro e tem outros interesses na vida”, apenas 18% elegeram a frase “a mãe tem seus filhos como prioridade”.
Biessa Diniz é jornalista e, após o nascimento de seu filho, uma mãe que expõe e fala sobre maternidade real em suas redes sociais. Ela se encaixa no grupo de mães que não se sentem reduzidas ao exercício da maternidade e que não acredita que isso anule suas outras partes como indivíduo. “Eu acho que a maternidade, de fato, toma muito do seu tempo, mas eu ainda acho que sou uma excelente profissional, uma ótima amiga. Eu ainda sou filha, esposa, uma pessoa divertida… Então são diversas facetas que tenho. Antes eu adorava pintar, agora eu não tenho tido tempo, mas isso ainda faz parte de mim. Não é porque eu não tenho tempo para fazer que isso anula o que eu sou, o que eu gosto e outras milhares de coisas que sou”, diz ela.
Mom-shaming: o peso dos palpites constantes na maternidade
O excesso de palpites e sugestões sobre gestação, parto e criação não são exatamente uma novidade no universo da maternidade. Em uma rápida pesquisa na internet, é possível achar uma dezena de artigos intitulados “como driblar os palpites na criação dos filhos?”, oferecendo dicas para mães sobrecarregadas de sugestões alheias.
Diante dessa situação comum, criou-se até mesmo um termo que sintetiza as opiniões e palpites que pessoas próximas à mãe oferecem, mesmo sem serem solicitadas: “mom-shaming”. A recorrência desse tipo de episódio apenas reforça o estereótipo exaustivo da necessidade de ser ‘a mãe perfeita’.
Danielle Winner, mãe solo de 31 anos, conta que ao longo da sua experiência como mãe o que não faltaram foram as “famosas críticas encapsuladas em forma de conselhos”, como ela mesma define. “Nossa, como eu ouvi ‘você não tá sabendo amamentar sua filha, não é assim que faz’ ou ‘meu deus, você colocou roupa demais nela, tá sufocando a menina”’, conta. Danielle também relata a desigualdade das cobranças em relação ao pai nesse excessivo palpitar da criação: “se seu filho se machuca você ouve ‘onde tá a mãe dessa criança?’. Se ele fica doente, ‘nossa, a mãe não deve cuidar bem, tá sempre doente’. E o pai? Qual é o papel dele, né? O duro é que são mulheres julgando outras, sororidade zero”.
E, de fato, boa parte dos comentários partem de outras mulheres. Em um estudo realizado no Hospital Infantil CS Mott, da Universidade de Michigan nos Estados Unidos, mais da metade das mães de crianças pequenas relatam ouvir críticas sobre o modo como criam seus filhos. A maioria delas parte de seus próprios pais (37% dos casos) e sogros (36% dos casos), porém também é frequente os palpites partirem de outras mães que encontram em público – representando cerca de 12% dos casos.
Amanda relata que faz parte da porcentagem mais alta da pesquisa. Ela conta que desde que sua filha era recém nascida até os dias de hoje, já adolescente, escuta intromissões constantes da mãe sobre a criação de sua filha. “Quando minha filha nasceu, eu só pegava ela para amamentar porque minha mãe não deixava eu tomar frente para cuidar dela. Ela falava ‘ah, não cuida assim’, ‘desse jeito você acaba sufocando ela, tem que dar de mamar de outro jeito’, ‘banho não é assim, é desse jeito’. Tudo o que eu faço ta errado, sabe?”, desabafa ela.
Já Roberta conta que adentra a segunda maior porcentagem do estudo. Atualmente residindo na casa da sogra, ela lida constantemente com palpitações da família do marido e sente que muitas vezes tentam tomar à frente no seu papel de mãe. “Eu não acho isso bacana porque é uma situação que oprime. Acredito que cada mãe, mesmo do seu jeito simples, sabe o que é melhor para o filho. Acredito que os palpites não são bem-vindos”, relata ela.
De fato, o ‘mom-shaming’ carrega um peso opressor para as mães, podendo provocar insegurança, humilhação, frustração e raiva. Segundo os especialistas a frente do estudo, o excesso de criticismo aumenta as tensões envolvidas na criação das crianças e geram a sensação de ausência de apoio. 42% das entrevistadas relataram sentirem-se mais inseguras com suas escolhas devido aos constantes palpites.
Larissa conta que além de lidar com críticas e palpites, também vive situações nas quais outros passam por cima da autoridade de mãe. Aos seis meses de idade, sua filha recebia danoninho enquanto ela estava fora de casa trabalhando, mesmo deixando claro que não queria que a alimentassem com a guloseima. “Esse foi só um dos muitos casos”, diz ela, também citando a fase da amamentação: “eu chorava para amamentar porque doía e me falavam muitas coisas. Chorava por me sentir a pior mãe do mundo”.
Para além de toda a pressão familiar, hoje em dia muitas mães ainda lidam com um novo canal de recebimento de palpites: as redes sociais. Biessa, que compartilha sua jornada com a maternidade no Instagram, conta que um caso marcante entre os comentários e palpites que recebe nas redes, foi em relação ao atraso da fala do seu filho. “Eu abri uma caixinha de perguntas sobre isso no Instagram e me perguntaram se ele tinha probabilidade de ter autismo. Eu expliquei que ele já passou por triagem com a neuro e que o laudo não foi conclusivo, então o que tratamos agora é o sintoma do atraso de fala em si. Nisso, veio outra pessoa me dizer ‘ai gente, eu não aguento mais essa coisa de autismo, parece que virou moda. Toda mãe para se afirmar tem que ter um filho com problema’. Essa eu nem dei o trabalho de responder, só bloqueei mesmo”, conta ela.
Apesar dessa vigilância virtual que tem contato, Biessa relata que o caso que a mais irritou partiu de uma desconhecida no meio da rua: “quando meu bebê era bem pequeno eu ficava sozinha com ele em casa porque meu marido estava no trabalho e eu não tenho uma rede de apoio muito extensa. Sai com ele para dar um passeio e no meio da rua ele abriu um berreiro”. Ela narra que estava voltando para casa ao perceber que o bebe não estava bem naquele ambiente, quando foi abordada por uma senhora desconhecida. “Primeiro que ela chegou e abriu o mosqueteiro do carrinho e eu já achei aquilo horrível. Então me passou um sermão, falando que não devia estar na rua com ele. Eu virei para ela e disse ‘minha senhora, vai tomar no olho do seu cu porque eu não perguntei nada’”. Rindo, ela conta que não esquece o episódio porque tinha respondido com muito gosto: “eu era puérpera, estava sem dormir, ficava sozinha com ele, não tinha almoçado e sai justamente para ir na lanchonete comer um sanduíche. Então me chega uma doida que nunca vi na minha vida para palpitar. Fala sério!”.
Mães solo: a realidade das mulheres que criam seus filhos sozinhas
Amanda Oliveira deu fim ao relacionamento com seu marido em 2017. A babá e cuidadora de idosos tinha que equilibrar o relacionamento abusivo que vivia com a criação de seus dois filhos. Após a separação, ela se mudou de São Paulo, alugou uma casa e, agora, é uma mãe solo que não conta com nenhuma ajuda financeira do ex-marido. “Eu me encontrei num momento de proteger meus filhos, abri mão dessa minha vida de casa, de esposa para cuidar deles sozinha” relata ela, que hoje se divide entre dois empregos e a criação das crianças.
Amanda enfrenta todas as dificuldades de uma mãe solo – mulheres que, sozinhas, são responsáveis pela criação dos filhos, no âmbito emocional e financeiro. O termo deixa de lado o uso da expressão “mãe solteira”, por se tratar de uma denominação equivocada, já que a maternidade não se trata de um estado civil, mas sim de uma sobrecarga financeira e psicológica que essas mães sofrem, como conta Hayeska Costa, em uma entrevista ao Podcast O Assunto, produzido pelo G1.
Segundo dados publicados no estudo “Mulheres Chefes de Família no Brasil: Avanços e Desafios”, existem pelo menos 11,5 milhões de mães solo no país. A pesquisa aponta que o percentual de famílias chefiadas por mulheres aumentou de 2001 a 2015, indo de 27,4% para 40,5%. Em entrevista ao Podcast O Assunto, do G1, Suzana Cavenaghi explica esse aumento se deu pelo fato da ampliação do espaço da mulher no mercado de trabalho – que não foi acompanhado por uma maior presença de homens ocupando as atividades domésticas, fazendo com que a responsabilidade dos filhos ainda seja majoritariamente feminina.
A carga psicológica que uma mãe solo é encarregada pode ser gigantesca. Larissa Belinati a define como extremamente exaustiva. “Eu sempre tive uma rede de apoio e isso ajudou muito, mas a experiência mais marcante foi ver minha filha rejeitando o seio, tão pequena, foi muito frustrante. Ela tinha dois meses e chorava muito por não querer mamar, e todas as mamadas eram assim. Durou até os quatro meses, quando, por fim, ela realmente não queria mais o leite. Eu estava sozinha, muito frustrada”, recorda.
Daniella Winner também passou por dificuldades depois que ficou com total responsabilidade da criação de sua bebê. Após algumas tentativas frustradas, Daniella engravidou em novembro de 2019, mas a preocupação tomou o lugar de sua felicidade quando a pandemia do Coronavírus teve início, em março de 2020. “O medo de perder a minha filha era gigante. Eu não sabia a causa de tantas perdas gestacionais e eu lutei muito para que a Alice viesse ao mundo, me consultava num hospital de alto risco e fiz uso de heparina”, relata. Logo nos primeiros meses após o parto Daniella se tornou uma mãe solo – duas palavras que, para ela, tinham um peso muito grande. “Em qualquer consulta que eu ia e o pai da minha filha não estivesse, perguntavam sobre o meu suposto marido, foi entristecedor. Vi os casais com suas famílias e eu não tinha mais a minha”, desabafa.
Além da falta de apoio, há aquelas que sofrem com os julgamentos. Amanda é uma dessas mães, que relata ser muito criticada na igreja em que frequenta. Em uma dessas situações, um funcionário do local fez um comentário sobre Amanda ter um caso com um homem casado. Houveram outras situações mas, para ela, é importante não levar esses atos para o coração: “eu falo, gente coitada de mim! Eu levanto 6h40 da manhã, chego 7h30 da noite, a pessoa inventa cada história, sabe, então essas coisas deixam a gente chateado”. Para ela, a sociedade ainda tem grande preconceito com mães solo.
Mães por adoção: não só a dádiva, mas também os desafios
Outro tipo de maternidade comum e que ainda tem suas dificuldades é a adotiva. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), há em torno de 39 mil crianças acolhidas no território nacional e 4 mil disponíveis para adoção. Além disso, dados retirados do Guia da Adoção feito pelo Instituto Geração Amanhã, durante a pandemia o número de adoções teve uma grande queda. Segundo o guia, dados do SNA de maio de 2021 mostram que muitas crianças disponíveis para adoção não conseguirão encontrar famílias pois não correspondem aos perfis mais desejados pelos pretendentes. Há abrigos que perdem a esperança de uma criança ser adotada por isso.
Foi o caso dos três filhos de Alessandra Aparecida – Everton, Felipe e Fernando. Alessandra tinha o sonho de ter filhos mas não conseguia gerá-los por causa de uma endometriose, e foi assim que decidiu, com seu marido, iniciar o processo de adoção. No entanto, o companheiro descobriu uma doença terminal e faleceu em poucos meses, colocando uma pausa no sonho de Alessandra. Seis meses após o episódio, ela foi contatada pela Vara da Infância, mas como ainda não estava em condições de prosseguir com a adoção, iniciou um acompanhamento em grupos de apoio por um período até se sentir preparada para visitar abrigos. “A princípio eu fui mãe de apoio, não comecei com a adoção propriamente dita, eu ia nos finais de semana e escolhia a criança dentre as quais eu podia trazer para passar o final de semana comigo”, conta Alessandra.
Ela se recorda de como conheceu um de seus filhos, na primeira vez que foi ao abrigo: “a assistente social conversou, me apresentou o abrigo e ela ia falando das crianças. Ela passava por uma criança, descrevia e ela ia me passando por todas. Quando chegou no que seria o meu filho ela desviou, falou ‘ah esse aqui não, então esse aqui…’ Ela desviou dele, aí ela foi apresentando, chegando no Felipe ela também desviou e apresentou todos os outros”.
Quando as apresentações terminaram, Alessandra quis saber porque a assistente social não havia detalhado as duas crianças e, segundo a funcionária, aqueles eram meninos que há tempos ninguém queria. Naquele fim de semana, Alessandra pediu para levar o que estava lá há mais tempo, um dos que não haviam sido apresentados. Ele seria o seu mais novo, Everton, que na época tinha 2 anos de idade. No segundo fim de semana, ela pediu para levar o outro menino que não foi detalhado, irmão de Everton. Felipe, que foi diagnosticado com Síndrome de Asperger, passou um fim de semana tranquilo em sua casa. No terceiro final de semana ela quis conhecer o terceiro irmão, Fernando, sobre o qual a assistente social só havia mencionado, mas nunca o mostrou e a reação foi surpreendente: “quando eu vi o Fernando, eu identifiquei na hora, falei ‘gente, achei meu filho’. Tão lindo, um príncipe”.
Em sua estadia, Fernando contou à Alessandra que precisava ficar com os irmãos se fosse adotado e a mãe começou a cogitar adotar as três crianças. Depois de devolver o mais velho ao abrigo, ela relata que teve que tirar um tempo para tomar a decisão final. Após duas semanas longe do local, ela voltou ao abrigo e decidiu adotar os três. Depois de um longo processo de adaptação, em que os meninos tinham que voltar ao abrigo toda semana, Alessandra finalmente ganhou a guarda definitiva de seus três filhos. “Foi o melhor dia da minha vida, meus três filhos comigo, aqui em casa todo dia, mudança de escola… e eu era uma pessoa sozinha, viúva, pisquei o olho e era mãe de três”, recorda.
Com a adoção, Alessandra, que era técnica de enfermagem e professora de inglês, abriu mão de sua profissão para se dedicar exclusivamente à maternidade. Ela atualmente também está no processo para adotar outra criança, dessa vez uma menina, e descreve estar sendo uma experiência incrível.
A satisfação com a maternidade, entretanto, não tira das mães a culpa. Para Alessandra, as mães se sentem culpadas o tempo inteiro – ela não é exceção, e conta que o sentimento veio pelo fato de ela ter largado sua profissão. “Eu queria ter podido continuar minha carreira, mas eles eram três, eu era solteira, e não tinha como continuar. Então a gente se sente culpada o tempo inteiro mesmo, por às vezes dar bronca, por ralhar, dar um tapa na bunda, mas de maneira geral a culpa tem muito a ver, no meu caso específico, com o excesso de amor. Eu queria sempre poder fazer mais. Não os mimo, pelo contrário, mas eu sempre queria poder fazer mais”, reflete Alessandra.
Para Angélica Amarante dos Anjos, mãe adotiva de um menino de 15 anos, a culpa tem uma ligação com uma das fases da adoção – a dos testes. Essa fase, segundo a autora e criadora da página do Facebook Anjos da Guarda Serviços de Apoio à Adoção, caracteriza-se por um momento em que a criança testa seus pais para sentir-se segura e garantir que pode confiar em seus futuros responsáveis. Quando esse momento chegou à família de Angélica, ela diz ter passado por situações que não havia previsto.
“Filho não vem com um manual de instrução, não sabia direito como eu tinha que agir, mas eu fui descobrindo os caminhos. Confesso que foram situações difíceis pra mim e me senti culpada porque eu tive sentimentos muito intensos de cansaço, de raiva, de culpa. Eu precisei me encontrar como mãe, como ser responsável por um filho, e que tinha que fazer tudo pra dar certo, realmente foi um período difícil”, recorda Angélica. Apesar das dificuldades, ela ressalta que esse processo foi importante para fortalecer a relação da família. Para ela, com muito carinho, amor, ajuda e preparo é possível driblar essa fase e todas as dificuldades que vêm com ela.
Angélica sabe da importância de estar em uma rede de discussão sobre a adoção para encarar todas as etapas desse processo. Para ela, a maternidade por via da adoção é um tanto solitária, já que ela acredita que ainda existe, na sociedade, uma ideia equivocada de que a adoção seria uma “maternidade de segunda linha”. Isso não a desanima, no entanto: “antes de me entristecer ou de me aborrecer, isso apenas me mostra o quanto nós temos que atuar na área da adoção pra mostrar para as pessoas que a maternidade através da adoção é uma maternidade riquíssima nas alegrias, nas felicidades, nas descobertas, nas situações desafiadoras, é riquíssimo”.
Na visão de Angélica, no momento em que ela adotou seu filho, ela também adotou toda uma rede ao redor dela: seu marido como pai, ela própria como mãe e, ainda, todos os adotantes do mundo da adoção – e seus filhos também. Foi isso que a fez criar a página no Facebook: dar apoio e compartilhar seus conhecimentos, o que a fez mergulhar cada vez mais nesse universo. Hoje, ela é autora de dois livros, com histórias que pretendem ajudar pessoas a reavaliarem seus preconceitos em relação à adoção.
Angélica ainda adiciona que não acredita que seja sorte de uma criança encontrar uma família, como ela já ouviu antes de outras pessoas. “Não é sorte, é dádiva. Você querer ser mãe, se tornar mãe e então o filho vem porque tinha que ser nosso mesmo, é incrível esse processo, essa afinidade”, explica. Ao falar sobre isso, ela ainda se lembra de um episódio do início do processo de adoção: “eu perguntei pro meu filho uma vez, quando ele ainda estava no abrigo, quais eram as comidas preferidas dele. Ele falou assim, ‘ah, eu gosto de pizza’ e eu lembrei que o meu marido faz uma pizza maravilhosa, e fiquei imaginando ‘ah meu deus, o meu filho não sabe aonde que ele foi parar, justo numa casa de pizzaiolo’”. Atualmente, na maioria dos sábados, a principal atividade de pai e filho se resume a preparar uma pizza juntos. Para Angélica, a maternidade lhe deu mais que um filho maravilhoso, mas também plenitude e profunda comunhão com outros seres humanos.
No parto e nas escolhas, a mulher nunca está no controle
Para Amanda, a maternidade chegou com alguns traumas. Em sua primeira gravidez, ela teve sua filha aos 17 anos. Além da falta de apoio que teve após o parto, relata ter ouvido das enfermeiras comentários como “na hora de fazer tava bom, agora vamo, vamo que tem o neném” ou até “ano que vem ela tá aqui de novo”.
Segundo a Cartilha “Conversando sobre Violência Obstétrica”, publicada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, uma em quatro mulheres brasileiras sofre algum tipo de violência durante o atendimento do parto. Esse dado, retirado da Fundação Perseu Abramo, abrange atos de desrespeito, assédio moral, violência física ou psicológica e negligência. Ainda, o inquérito “Nascer no Brasil”, que coletou dados de 2011 e 2012, mostrou que 45% das gestantes atendidas pelo SUS sofrem algum tipo de abuso. A maioria dessas ocorrências acontece em um momento de vulnerabilidade da mulher, quando ela não tem capacidade de tomar alguma medida prática para interromper essa violência.
A cartilha ainda dá alguns exemplos do que é considerado violência obstétrica, dentre eles o atendimento sem acolhimento às necessidades, comentários constrangedores à mulher, ofensas direcionadas a algum membro da família, infusão intravenosa para acelerar o processo do parto, dentre outros.
De acordo com a ONG Artemis, criada com o intuito de erradicar a violência obstétrica, o tipo de violência mais comum na América Latina é a episiotomia indiscriminada. O procedimento pode ser feito durante o trabalho de parto normal, e consiste em uma incisão no períneo para facilitar a passagem do bebê. Evidências científicas mostram que a indicação é de uso em 10% a 15% dos casos. Na América Latina, ela é praticada em mais de 90% dos casos.
Ainda, segundo o artigo “Violência Obstétrica: um desafio para saúde pública no Brasil”, há resistência de parte dos profissionais em usar esse termo. Inclusive, em maio de 2019, o próprio Ministério da Saúde emitiu um despacho defendendo abolir das políticas públicas o termo “violência obstétrica”. Quase dois meses depois, em junho de 2019, o Ministério voltou atrás e reconheceu o termo e o direito legítimo das mulheres de o utilizarem.
Segundo o artigo mencionado, é comum esse desconforto entre profissionais da saúde em usar o termo, afinal de contas ele vai de encontro a práticas que são rotineiras. Um exemplo que ilustra isso está no inquérito “Nascer no Brasil”. Segundo o documento, as cesarianas no setor privado chegam a uma taxa de 88%, e no setor público, de 46%, sendo que a OMS recomenda que essa taxa não exceda 15%.
Em seu segundo parto, Amanda teve complicações por conta de um erro médico decorrente de uma episiotomia. “A enfermeira mal deu atenção a mim, o meu filho, quando ele foi sair na passagem dele, rasgou meu canal da urina, então eu tive que fazer uma cirurgia e eu fiquei usando sonda por 50 dias”, recorda. Os episódios que têm relação com isso são parte da razão pela qual Amanda, hoje, odeia a maternidade e ainda se sente traumatizada: “foi uma merda, não gosto nem de lembrar”.
Carolina é outra mãe que também sofreu esse tipo de violência quando teve seu filho. “Eu já estava com 39 semanas, fui para a maternidade com algumas dores e a médica diagnosticou que eu estava com uma infecção urinária. Ela falou que teria que tirar o bebê, perguntou se as malas estavam no carro porque ela ia me internar para fazer a cesárea”, relembra. Carolina disse que a sensação que ela tinha era de que sua filha foi arrancada, pois ela não estava a par de como ocorria o procedimento: “quando eu me vi tomando soro, passando sonda, parada numa maca, indo para o centro cirúrgico, aquela emoção bateu e eu não sabia mais o que estava fazendo ali”.
Após o nascimento, a bebê teve um desconforto respiratório, mas Carolina foi levada a uma sala pós-parto para esperar o efeito da anestesia passar. Ela queria ver sua filha, mas a anestesia a impedia e só conseguiu vê-la às 20h, oito horas depois do parto e, mesmo após acordar, ela relata que disse às enfermeiras que se sentia fraca e que não conseguia levantar da cama, mas mesmo assim a colocaram em uma cadeira de rodas para tomar banho. “Eu não conseguia controlar minha respiração, acabei vomitando, senti a dor horrível do corte pela primeira vez e foi uma experiência completamente desagradável”, relata. Meses depois, quando foi fazer a consulta pré-natal de seu segundo filho, descobriu que, na maternidade onde teve seu primeiro parto, enfermeiros normalmente “pesavam a mão” na quantidade de anestesia para que as mães não incomodassem os enfermeiros.
Essas situações, somadas a outras que acontecem ao longo da maternidade, podem ter impactos para que mulheres não queiram mais ser mães. Amanda é uma dessas mulheres e atualmente luta na justiça para que consiga fazer a laqueadura, até agora sem sucesso. “Eu já tenho dois filhos e a idade para poder operar, só que os psicólogos acham que eu posso casar de novo e meu outro marido futuramente pode querer ter um filho e eu não poder ter, essas coisas que eles ficam na cabeça. Mesmo eu sabendo que não quero ser mãe”, conta. Não só pela falta de vontade de ser mãe, a laqueadura garantiria sua saúde: “o médico fala pra você que se você tiver outro filho você morre, você vai querer ter outro filho? Não, eu não quero ter outro filho”.
No Brasil, o direito de uma mulher de conseguir fazer uma laqueadura é protegido pela Lei nº 9.263, na qual consta que mulheres acima de 25 anos ou com pelo menos dois filhos podem se submeter à esterilização voluntária. Apesar dos direitos, são muitos os relatos de mulheres que não conseguem fazer o procedimento por recusa dos médicos, mesmo que elas tenham a convicção de que não querem ser mães.
Há mulheres que, antes de engravidarem, não tinham o desejo de ser mãe, apesar de o assunto parecer um tabu. Roberta não tinha como objetivo de vida a maternidade: ela frequentava um curso técnico de estética e trabalhava para arcar com todos os custos de seus estudos. Para ela, após ter se tornado mãe, a liberdade e privacidade foram duas coisas que mudaram na sua vida: “eu não tenho mais a liberdade que eu tinha de sair, voltar a hora que eu queria, há a questão também do trabalho, por enquanto eu ainda não consegui trabalhar porque foram praticamente dois anos seguidos que eu fiquei grávida e que tive o bebê, então não consegui trabalhar, somente por conta”.
Roberta ainda conta que até queria recorrer ao aborto: “eu sabia que a partir dali os meus sonhos seriam todos interrompidos durante um tempo, os meus sonhos iriam ficar estacionados, então se o aborto fosse algo legalizado eu acho que nessa época eu teria feito”. O aborto do Brasil só é permitido se a gravidez decorreu de um estupro, se oferece risco à vida da mulher, ou se há casos de anencefalia do feto.
Hoje, com os dois filhos em casa, ela já não pensa mais da mesma forma, mas diz ainda não saber o que é maternidade e que se encontra em um processo de aceitar essa condição. Mesmo pensando de forma diferente, Roberta ainda defende que é importante que a mulher tenha liberdade para escolher se quer ser mãe ou não.
A desvalorização materna pela sociedade é uma unanimidade
Entre as nove mães entrevistadas para essa reportagem, muitas foram as divergências e pontos em comum que encontramos entre suas opiniões, experiências e histórias. Porém, algo se ressalta como uma concordância unânime entre elas: a sociedade não valoriza o suficiente o trabalho das mães.
Para Carolina, a cobrança a todo tempo é o retrato da desvalorização do trabalho materno. “A mãe não pode ter erros, precisa ser perfeita. Ela precisa dar conta de tudo e se pedir ajuda é considerada incapaz de cuidar do seu filho. Ela precisa ser 100% as 24 horas do dia e eu acho que isso é muito, muito pesado”, desabafa ela. “Eu mesma não consigo ficar o dia inteiro em casa, preciso ocupar minha mente nem que seja meia hora por dia no trabalho para poder tirar o foco da obrigação de ser mãe, de dar conta de tudo, de ter uma casa sempre impecável, filho arrumado e cheiroso, enfim… As pessoas só veem o lado negativo”, conta.
De fato, essa sensação de exaustão com a vida doméstica e o cuidado materno só tem se agravado em meio aos últimos meses de pandemia. Em pesquisa do Atlas Político, encomendada pelo El País, 80% das mães alegaram cansaço rotineiro pela situação provocada pela crise sanitária, enquanto 74% afirmaram que o trabalho doméstico e com os filhos aumentou neste período.
“Muitas vezes uma mulher sonha em ser mãe de forma totalmente fantasiada, como aconteceu comigo. Uma maternidade perfeita: a criança vai para escolinha, a gente trabalha, depois ficamos com eles… Mas vai muito além disso. E as pessoas não entendem, somos muito julgadas. Se a mãe trabalha fora o dia inteiro com a criança na escola: ‘para que teve filho?’. Se a mãe fica em casa o dia inteiro cuidando da criança: ‘porque foi inventar de engravidar? Poderia estar trabalhando e ter uma vida melhor’. Sempre tem um apontamento e isso dói demais na maternidade porque a gente sempre tenta dar o nosso melhor”, relata Carolina.
A mesma pesquisa realizada pelo Atlas Político também traz um ponto interessante: em comparação às mães, os pais são minoria no que se trata em sentir cansaço ou aumento das responsabilidades de cuidado ao longo da pandemia. Enquanto 80% das mães alegaram cansaço pelo aumento das tarefas domésticas, apenas 48% dos pais concordavam com essa alegação. Esse pode ser apontado apenas como um dos indícios das persistentes desigualdades no papel do cuidado e nas cobranças na criação de um filho entre mãe e pais.
“Acho que a sociedade não valoriza nenhum pouco o trabalho de ser mãe porque ao mesmo tempo que as pessoas acham que é moleza, elas exigem uma demanda insana das mulheres e não pedem o mesmo dos pais”, diz Biessa. Ela relata que as mesmas tarefas feitas por pais e mães têm pesos diferentes – no caso das mulheres são vistas como meras obrigações; enquanto no caso dos homens, os fazem parecer um ‘super pai’: “um bom pai não chega aos pés do que uma mãe faz”.
Dados do IBGE de 2018 apresentam que mulheres, em média, dedicam 21,3 horas por semana a afazeres domésticos e cuidado de pessoas – quase o dobro de homens, cujo tempo gasto com as mesmas tarefas é de 10,9 horas. Além disso, em pesquisa realizada pela Ipsos em parceria com a universidade britânica King’s College London, o Brasil aparece em terceiro lugar na lista de países que mais concordam com a afirmação “um homem que fica em casa para cuidar dos filhos é menos homem”. Segundo o estudo, um quarto dos brasileiros (26%) concordam com a frase, deixando o país para trás apenas da Coreia do Sul e Índia.
Biessa também relata as dificuldades empregatícias encontradas quando se é mãe. “Ser mãe é uma tarefa muito inglória, porque a sociedade de fato não parece se importar – isso inclusive no mercado de trabalho. Parece que quando você vira mãe, anula todas as suas outras partes do seu ser. Você vai procurar um emprego e te perguntam ‘quem fica com seu filho?’, ‘mas você tem um filho pequeno, como vai se dedicar’. Eu ainda escuto muito minhas amigas falando disso e eu mesma já passei por algumas situações assim”, conta ela.
Essa é a mesma situação vivida por Larissa, que passa por dificuldades para retornar ao mercado de trabalho não apenas por conta da pandemia, mas pelo fato de ser mãe. “Quando chega na entrevista, a empresa sempre opta por um profissional sem filhos. Já trabalhei em RH e muitas empresas solicitam esse perfil para os recrutadores. Claro que eles não falam isso quando te dão um retorno negativo, porém no momento em que perguntam se você tem filho, já é possível ver a feição mudar”, conta ela.
Em um levantamento realizado pela plataforma empregatícia Vagas.com, no ano de 2018, 70,79% das candidatas entrevistadas relataram ter respondido perguntas sobre filhos ou planos de engravidar em seu último processo seletivo. O constrangimento no ambiente de trabalho também é recorrente: 52% das mães dizem ter passado por esse tipo de situação durante a gravidez ou retorno da licença-maternidade.
Essa e muitas outras problemáticas que as mães enfrentam para criar seus filhos ou conciliar outras áreas da vida para além da maternidade são sintomáticas de que, em nossa sociedade, as mães não estão sendo ouvidas em nível social. Práticas tão essenciais para reprodução humana como gerar, parir, amamentar e cuidar são profundamente ignoradas.
“Sem dúvida, é preciso de muito mais para trazer conforto, tranquilidade e valorização para uma mãe. Em primeiro lugar, acho que a sociedade precisa valorizar mais o papel da mulher – como ser pensante, criador, cheio de potencial. A sociedade precisa ser mais inclusiva em relação à mãe. A questão de trabalhar, por exemplo, é sempre complicada. Precisamos de mais estrutura e apoio”, compartilha Angélica.
Neste sentido, nosso país vizinho já deu um primeiro passo. Em uma decisão histórica no último mês de julho, a Argentina instituiu o decreto que reconhece o direito à aposentadoria de mães que dedicaram anos de suas vidas aos cuidados maternos. O benefício é direcionado a mulheres que estão em idade de se aposentar e não têm os 30 anos mínimos exigidos de contribuição trabalhista. A medida modifica a Lei de Aposentadoria e Pensões e tem a projeção de alcançar cerca de 155 mil mulheres que poderão acrescentar de um a três anos de tempo de serviço por filho.
Angélica também aponta a falta de medidas de lazer voltadas ao apoio materno. “Uma política cultural e de lazer voltada a crianças seria ótimo – centros de convivência, centros de lazer, centros culturais… Muito mais do que temos hoje! Geralmente se associa muito o papel da mulher a apenas tarefas domésticas e cuidados com os filhos, mas eu acho que a pandemia trouxe uma noção mais real, de que a responsabilidade perante a casa e os filhos é uma responsabilidade do casal”, diz ela.
Já Roberta não esquece de pontuar que a valorização do papel da mãe também passa por maior respeito e empatia com suas experiências. “Eu acho que a sociedade poderia ajudar não dando palpites, respeitando a vontade e o espaço de cada uma, oferecendo ajuda quando precisamos e não julgando por nada nesse mundo. O que mais vejo em grupos são as próprias mulheres criticando e julgando outras, a maioria das críticas não vem de homens. Então eu acho que deveríamos ter mais empatia e nos colocarmos no lugar da outra”, opina ela.