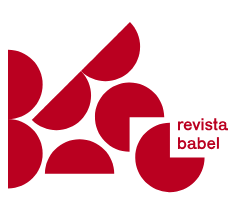Até hoje, entrar e permanecer no futebol feminino é uma luta. O retrato de quatro mulheres de gerações diferentes explica porque a briga continua.
No ano de 1977, o nome mais conhecido do futebol brasileiro encerrou uma carreira de 25 anos e mais de 1.000 gols. Edson Arantes do Nascimento, o aclamado Pelé, tinha 37 anos quando entrou nos gramados pela última vez como jogador profissional, em um amistoso do Santos contra o seu clube atual, o New York Cosmos. No dia 1º de outubro, Pelé jogou a primeira metade do confronto com a camisa verde dos Cosmos – fez até um gol, de falta, o 1.283º. Depois vestiu o uniforme branco do Santos na metade final da partida, homenageando o clube que o lançou, quando tinha só 15 anos. Ao final da partida, foi carregado pelos companheiros americanos, saudado pelos santistas e concluiu a carreira com uma volta olímpica. No Giants Stadium, a multidão de 35.548 torcedores bradou, a todos pulmões: “Love, love, love!”
Naquele mesmo ano, uma menina de sete anos de idade quebrou uma lei federal – com o auxílio de uma cabeça decapitada da boneca Verinha, da Estrela. O crânio de plástico com olhinhos de gude fazia vez de bola nos campos de terra batida em Esplanada, cidade no interior da Bahia com 37.000 habitantes.
Anos 80
A moleca Sisleide do Amor Lima, amante do futebol e de burlar convenções sociais, viria a ser Sissi, a camisa dez da Seleção Brasileira de Futebol Feminino que brilhou nos campos antes de Marta. Para ela, tudo começou brincando de bobinho com o pai, que era jogador, e o irmão, que aspirava ser. Só que ela era privada do jogo pra valer, porque futebol não era coisa de menina para eles – nem para o Brasil.
“Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país”, dizia o decreto-lei 3.199, assinado pelo presidente Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, em 14 de abril de 1941, vigente até 1983. Durante todo esse tempo, ele proibiu, dentre os esportes considerados masculinos, a prática do futebol feminino no país.
Diante desta negativa homérica, a menina de gênio forte não viu opção senão quebrar as regras e nunca aceitar não como resposta. Naquele mesmo ano, meio a olhares de soslaio e comentários negativos, um pai que sonhava transmitir o gene jogador de futebol deu à filha não uma boneca, mas uma bola de capotão.
“Foi o momento que ele decidiu me apoiar”, diz Sissi.
Na cidade pequena, ela só jogava com meninos, sobre quem tinha vantagens tanto no fator da habilidade quanto no de ser dona da pelota. Foi só quatro anos depois, quando o pai foi transferido para Campo Formoso, também no interior da Bahia, que Sissi viu pela primeira vez na vida outra menina jogando futebol. As colegas decidiram montar uma equipe para brincar na escola, com cinco meninas e, aos 14 anos, começou a jogar pelo primeiro clube, a Associação Atlética Sisal do Bonfim.
Tudo mudou quando o Flamengo de Feira de Santana foi para Campo Formoso jogar uma preliminar contra o Sisal. Foi amor à primeira vista: o dono do time viu o talento da menina e logo perguntou se estaria disposta a morar em Feira de Santana para jogar no Flamengo. A propaganda incluiu desde alojamento para morar até um incentivo para terminar os estudos na escola. Sem mais, nem menos, completamente por acaso, o que era um sonho distante começou a tomar forma.
“Vira e mexe, fico perplexa. Tive uma sorte danada”, conta Sissi.
De repente, a adolescente precisou crescer em questão de meses. Convenceu sua família de que ia sair de casa para morar com estranhos, sob a única promessa de que ia terminar o Ensino Médio. Se mudou para um alojamento com dez meninas de outras regiões, sendo que ela era a mais nova, e treinava todas as tardes depois da escola – tudo isso no ano seguinte em que o futebol feminino deixou de ser proibido. Depois de três anos no Flamengo, foi para Salvador, jogar no Bahia, onde realizou o sonho de todas as futebolistas: foi convocada pela seleção brasileira. Lá, usou a camisa dez de 1988 a 1999.
Sissi foi artilheira da Copa do Mundo de 1999 com sete gols, artilheira do Campeonato Sul-Americano com 12, e o primeiro nome do futebol feminino do Brasil a ganhar o mundo. Em 1997, quando jogou pelo São Paulo, a equipe masculina vivia uma crise e em diversos jogos a torcida gritou “Hey Muricy, coloca a Sissi!”. Uma carreira brilhante.
Mas, ao contrário do brilhante Pelé, com o “Love, love love” e o salário de 2,5 milhões de dólares por mês, cada conquista foi acompanhada por um entrave.
“Quando entrei para o profissional, a gente não recebia nem mesada”, conta Sissi. O Flamengo pagava por moradia e alimentação, mas as jogadoras não ganhavam salário. Enquanto isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dispunha de uma bolsa-auxílio, mas “não dava para viver, muita gente tinha que ter um outro emprego e desistiu na metade do caminho”.
Mesmo na seleção, a maior jogadora do Brasil na época só teve uma estrutura de clube quando as meninas passaram a treinar na Granja Comary, no Rio de Janeiro, no fim da década de 1990. A meia-atacante só teve sua primeira carteira assinada quando jogou pelo São Paulo, mais de uma década após o início da carreira, quando começou a receber um salário que cobria as necessidades básicas. Além disso, seu contrato também requeria que ela jogasse na equipe de futebol de salão.
A primeira Copa do Mundo Feminina, em 1988, sequer foi reconhecida pela CBF. O time viajou 16.622 quilômetros até a China sem nenhuma estrutura – até o uniforme era reciclado, um conjunto antigo da Seleção Masculina. De qualquer forma, a futebolista queria provar para o mundo e para si mesma de que tinha condições de representar o Brasil nos gramados. Tanta era a gana que, ainda com 17 anos, precisava da permissão dos responsáveis para a jornada, e fez a mãe forjar a assinatura do pai viajante. “Eu não podia perder aquela chance”. O Brasil terminou em terceiro lugar no torneio experimental, e ela fez seu primeiro gol em um mundial contra a Noruega.
Apesar de tudo, deu para continuar. Seu maior sonho de carreira não era fazer milhões, mas poder sobreviver do futebol. “Pensar em desistir, a gente pensa. Só que tem uma palavra que me define, que para alguns é teimosia, mas para mim é persistência”, diz Sissi. Sobre os ombros da baiana, a briga foi de uma geração inteira. Foi a própria profusão de nãos durante toda a sua vida que a fez pensar: por que desistir agora? “Se fosse para desistir, tinha desistido quando eu comecei, com sete anos, quando o futebol feminino ainda era proibido por lei”, diz.
“E hoje ainda estou aqui.”
Anos 90
Do cume da montanha onde ficava seu hotel no Rio de Janeiro, Alline Calandrini avistou a equipe brasileira de futebol feminino treinando no Granja Comary. Fazia três anos que ela havia desencanado de perseguir carreira como jogadora de futebol profissional, porque na sua cidade natal, Macapá, no Amapá, não tinha nenhum clube ou escolinha para meninas. Jogar com os meninos também havia deixado de ser uma opção, porque a força física havia começado a ficar muito discrepante.
De repente, “Pera aí, pera aí, tem mulher jogando aí!”
Alline praticava futebol desde os três anos de idade e sua família procurou oportunidades para a menina fora do estado até 2002, quando ela tinha 14 anos, e nada. “Fui desistindo aos poucos por falta de oportunidade. Até em São Paulo as jogadoras têm dificuldade, imagina no norte do país?”, questiona.
“Quando vi aquelas meninas jogando, parecia que tinha descoberto a América”, relembra Alline. A família mal fez o check in, de férias enquanto o pai fazia um curso no Rio, e já foi tentar conseguir um teste. Seu pai ficou no bate boca com funcionários, inventando histórias até conseguir o telefone do responsável pelo departamento feminino, e arranjou um encontro com um olheiro no dia seguinte. Apesar de não ser selecionada, já que a equipe sub-20 era um apanhado das melhores jogadoras da faixa etária e a menina não vinha de nenhum clube, recomendaram que a aspirante a futebolista fosse para São Paulo e assinaram três recomendações para três times paulistas diferentes. Uma semana depois de fazer todos os contatos, Alline fez as malas e mergulhou no sonho.
Seu primeiro time foi o Juventus, onde jogou em 2006, quando tinha 18 anos. Logo em seguida, a zagueira foi contratada pelo Santos.
Naquela tarde carioca, quando Alline viu o Brasil treinando na Granja Comary, Sissi já estava longe. Em 2001, a camisa 10 da seleção deixou o país para compor a equipe San Jose CyberRays, nos Estados Unidos, onde hoje ela é treinadora do California Storm. Contudo, ela bem poderia ter estado. A semente que sua teimosia plantou no fim do século, de alguma forma, floresceu no momento em que uma garota amapaense pôde retomar o sonho tornar-se jogadora. Enquanto a baiana corria por gramados gringos, o efeito borboleta de sua passagem pela Granja soprou Alline, por acaso, em direção aos clubes paulistas.
“Sempre falo que sou muito sortuda”, diz Alline.
Dois anos depois, as Sereias da Vila tornaram-se uma marca extremamente reconhecida, saindo de zebras para campeãs do Campeonato Paulista de Futebol Feminino de 2007 sobre o Botucatu. Antes disso, o Santos não era o clube em si, mas a prefeitura de Santos – só oferecia a camisa (da equipe masculina de dez anos antes). As jogadoras usavam bicicletas para chegarem ao treino, muitas vezes precisavam treinar na praia ou em um campo esburacado, e o alojamento era em um ginásio abafado.
“No meu primeiro ano, não ganhei um real”, conta Alline. As melhores jogadoras do time ganhavam R$ 500 por mês, como a volante Esther, que compôs a Seleção Brasileira de 2003 a 2013, quando foi contratada pelo Chelsea, da Inglaterra. Érika Cristiano, que jogou pelo Paris Saint-Germain e, atualmente, defende o Corinthians, ganhava R$ 250. O primeiro salário de Alline foi de 300 reais, em 2007, e passou para R$ 1.200 após a vitória no Paulistão daquele ano. “É uma dificuldade financeira em que atletas sempre se propõe a ficar. Afinal, a gente está jogando futebol.”
A zagueira também teve passagem pelo Centro Olímpico e pelo Corinthians, conseguindo a convocação para a seleção sub-20 e, depois, para a principal, com quem levantou o título da Copa América de Futebol Feminino de 2014. Uma lesão a obrigou a se aposentar em 2018, tornando-se comentarista da modalidade na BANDTV.
Para ela, teria sido praticamente impossível seguir carreira como jogadora sem o apoio dos pais desde o início, com o plantão em frente à Granja. Sempre com auxílio financeiro vindo do Amapá, Alline pôde se manter nos melhores clubes do país. “Só que isso não é uma realidade no Brasil”, afirma. Nos primeiros cinco anos de sua carreira, seus pais lhe deram um carro 1.0, pagaram sua faculdade, mandaram cartões de crédito, alugaram um apartamento próximo ao centro de treinamento. Enquanto isso, algumas das meninas estavam na posição contrária, em que elas que precisavam sustentar a família.
A amapaense conta que, no primeiro ano em São Paulo, seu pai chegou a dizer que a situação estava “muito puxada” e que a família “precisava repensar”. A mãe contestou: “Nem pensar, você vai até o fim”. Defensora ferrenha do sonho da filha desde sua infância, contrariou até a própria mãe (“Sai do meio dos meninos, vem colocar uma camisa!”), com muito orgulho (“Não. Ela vai ficar lá, com camisa ou sem camisa, até ela ter peitinho”).
Nos anos seguintes, com a vitória das Sereias no Paulistão em 2007 e, em 2008, com a conquista do Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino pela equipe sub-20, as coisas começaram a se encaixar. Foi quando a chave virou para a esperança de “acho que consigo ser uma jogadora”.
Foi com todo esse sacrifício que a ex-jogadora chegou aos Estados Unidos para um amistoso no Florida Citrus Bowl, contra a seleção americana, diante de um público de 20.000 pessoas. “É outro mundo. A caminho do estádio, víamos torcedores americanos todos arrumados, com bandeiras, fazendo barulho, é só festa. Não tive reação ao ver o estádio lotado. A hora do hino… Comecei a chorar”, conta Alline.
“Em que mundo elas vivem?”
Anos 2000
O Clube Atlético Juventus foi um dos primeiros clubes a adentrar o universo dos campeonatos de futebol feminino. O time é conhecido por revelar jogadoras por meio das categorias de base, como na escolinha de futebol feminino. Muitas meninas que tiveram passagem pelo Juventus acabam na Seleção Brasileira, como a lateral-esquerda Tamires, a meia Andressa Alves – e a atacante Ludmila da Silva.
Ludmila nasceu em Guarulhos e cresceu em um conjunto habitacional no bairro City Jaraguá, na zona norte de São Paulo. Quando tinha um ano, foi deixada pela mãe em um orfanato junto à irmã Sheila, um ano mais velha. Com três anos, passou a morar com a tia Maria e uma casa cheia de primos – 13 pessoas ao todo. A escola em tempo integral virou o principal desafogo e, depois, o atletismo. Com a irmã, sua melhor amiga, corria os 100 m livres, 100 m com barreiras, revezamento 4 x 100 m.
Apaixonada pela corrida, capoeira e hip-hop, passava longe do futebol – já Sheila era apaixonada pelo esporte. Aos 15 anos, sem pretensões, Ludmila foi levada por um amigo a um teste no Juventus. Apesar da falta de técnica, sua velocidade acima da média chamou atenção de Emily Lima, hoje técnica da Seleção Equatoriana de Futebol Feminino, e a menina passou a compor a equipe feminina do clube.
“Não fui eu quem escolheu o futebol, mas o futebol que me escolheu”, diz Ludmila. Com treinos pela manhã, escola à tarde e campeonatos no fim de semana, passou a viver e respirar o esporte. Morava no alojamento do clube, não tinha carteira assinada, recebia uma bolsa de R$ 300 – dos quais R$ 150 eram direcionados para o transporte público – e pegava carona nas marmitas que o cozinheiro da equipe masculina montava para os atletas.
Passou por clubes tradicionais como São José, Portuguesa, Santos e Rio Preto. Voltou ao São José de onde rumou para o maior voo da carreira, o Atlético de Madri. Foi a primeira brasileira contratada pelo clube espanhol. No meio desse furacão de novidades, a jogadora perdeu sua irmã em 2016. “A Sheila amava futebol, então ela é um dos motivos porque eu jogo”, conta Ludmila.
Ela foi convocada para a seleção sub-20 em 2010, com 16 anos. Em 2017, estreou na seleção principal.
“O nível de estrutura que a seleção oferece é muito alto, com horário, salário e uniforme tudo certinho”, diz. “Mas havia descaso com algumas coisas que parecem simples, como as viagens”. Muitas vezes, as meninas precisavam viajar de ônibus, e não de avião, o que tornava o descanso muito mais difícil e atrapalhava a performance. “Às vezes a gente tinha que viajar cinco horas e jogar no mesmo dia sem descanso.”
Contudo, em 2019, veio o suprassumo: Ludmila fez parte da lista de convocadas da para a Copa do Mundo na França. O evento foi um marco na história do futebol feminino, batendo recordes de público, patrocínio e sendo televisionado pela primeira vez no Brasil. Toda jogadora, e qualquer amante de futebol, considera o mundial de 2019 como um divisor de águas, a prova de que o investimento na modalidade rende.
A Fifa divulgou que a partida entre Brasil e França, nas oitavas, foi assistida por mais de 58 milhões de pessoas (35 milhões só no Brasil), um recorde de audiência entre torneios femininos promovidos pela entidade. Segundo a Kantar Ibope Media, Globo e Band somaram 34 pontos de audiência durante o jogo. Além disso, o primeiro Mundial feminino, em 1991, levava o nome de Copa M&M’s em função do único patrocinador do torneio: a marca de chocolates M&M’s. Vinte e oito anos depois, a Copa foi patrocinada por marcas globais como Coca-Cola, Visa e Hyundai. As jogadoras também se manifestaram mais sobre o pagamento igualitário para homens e mulheres.
“Foi uma experiência única. Sei que entrar para a seleção e jogar um mundial é um desejo de muitas meninas, então para mim foi uma honra e um orgulho”, diz Ludmila. “Jogar ao lado da Marta, Formiga e Cristiane me deixou realizada”.
Naquele mesmo ano, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) também tornou obrigatório para todos os participantes da Série A do Brasileiro manter um time de futebol feminino – adulto e de base –, quase 40 anos desde que a prática do futebol feminino deixou de ser proibida por lei. No início de 2019, apenas 7 dos 20 clubes tinham equipes femininas estruturadas. Hoje, 16 jogam a série A do Brasileirão feminino.
“Agora mais meninas podem viver o sonho delas”, diz Daniela Orlandi, que veste a camisa do Clube Atlético Juventus há quatro anos. Ela joga bola desde os quatro anos de idade, e ficou até os 11 treinando só com meninos – quando proibiram competições mistas e meninas só eram permitidas nos treinos. Em seguida, na mesma época em que ela descobriu o Centro Olímpico, na categoria de base sub-15, perdeu o pai, ex-jogador e maior apoiador da filha na carreira futebolística. O Centro Olímpico foi sua casa até que recebeu o convite para jogar na equipe profissional do Juventus, onde começou a disputar o Brasileiro e o Paulista com carteira assinada, registrada pelo futebol.
Para Dani, o problema da imposição da Conmebol é que alguns dos times podem cumpri-la sem afinco ou responsabilidade. “Não adianta ter uma equipe feminina se o clube atrasa os salários, não tem alojamentos bons e serve salsicha todos os dias no almoço. Isso prejudica a modalidade”, diz. Ela explica que o futebol feminino já sofre preconceito por conta de técnica e preparo físico – o clássico “assistir feminino é muito chato” – e quando um time vai mal na partida, quem assiste não sabe a realidade por trás da atleta, concluindo que é uma má profissional.
Talvez um dos maiores desafios para a jogadora futebol feminino é encontrar um lugar que ofereça estrutura, onde a profissão seja sustentável. A centroavante teve sorte de obter apoio da família e nunca precisou ter um emprego paralelo para se sustentar. Apesar da estrutura do Centro Olímpico e Juventus, com uma rotina rígida de treinos e acompanhamento, até os 19 anos não recebia um centavo pelo futebol – “tem muita menina que fica pelo meio do caminho, porque”, explica. Ambas as equipes estão cheias de pessoas que acordam cedo, vão para a faculdade, direto para o treino e, depois, vão trabalhar. Dani perdeu conta de quantas vezes passou pela mesma interação:
— O que você faz da vida?
— Jogo futebol.
— Não, mas o que você faz de verdade?
Hoje, ela já recebe um salário, mas ainda não considera o suficiente para sair da casa da mãe. Recentemente, foi convocada para a equipe sub-20 da seleção, onde se deparou com regalias como nutricionista, fisioterapeuta, alimentação adequada e área para descanso – nos clubes femininos por quais passou, malemal encontrava um técnico, auxiliar, roupeiro e massagista. “Na seleção, é incrível sentir que você só precisa literalmente viver daquilo”, conta.
Ao contrário de Ludmila, Dani pretende ficar no Brasil por enquanto. Seu plano é primeiro ser reconhecida em terras tupiniquins para, depois, explorar outras opções. Contudo, mesmo agora que começou a encontrar estabilidade, ainda se depara com barreiras.
Apesar da marcante Copa e do incentivo da Conmebol, a verba que os clubes recebem da Confederação Brasileira de Futebol raramente vai para as equipes femininas. Durante seus três primeiros anos no Juventus, o time era terceirizado e não tinha financiamento – apenas o símbolo do uniforme, fornecido por patrocinadores, vinha da associação. Só agora que a modalidade conseguiu uma vaga para disputar o Brasileirão, coisa que nem a equipe masculina conseguiu, houve interesse em investir.
“Sempre tive o sonho de fazer o Juventus crescer, mas sempre me decepciono”, conta Dani. “É como um relacionamento em que você faz tudo pela pessoa, mas ela não está nem aí para você”.
Ela e todas as profissionais da modalidade se preocupam muito com o futuro. A dobradinha que seria a Copa de 2019 com as Olimpíadas de 2020 poderia fortalecer o movimento de valorização do futebol feminino, mas agora, em um momento em que tanto é incerto, as conquistas das mulheres nos gramados podem ficar estagnadas por um tempo. A pandemia de coronavírus foi um grande baque, entre outras coisas, para o esporte. Se o futebol masculino vai sofrer, o feminino deve sentir em dobro.
No dia 8 de junho, a CBF anunciou que vai disponibilizar aos clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro uma linha de crédito total de até 100 milhões de reais, a juro zero. Para a Série B, o adiantamento vai ser de 15 milhões, sobre os valores que tem a receber sobre o contrato de direitos de transmissão com o Grupo Globo. Contudo, caberá aos clubes distribuir a grana, porque a CBF não exige contrapartida. No início de abril, especificamente para o futebol feminino, a entidade doou R$ 120.000 para cada um dos 16 times da Série A do futebol feminino nacional e R$ 50.000 para cada um dos 36 times da segunda divisão. Mesmo assim, as mulheres já estão sendo jogadas para escanteio.
Um levantamento do GloboEsporte.com sobre os 16 times da elite do futebol feminino no Brasil aponta que quatro clubes cortaram ou não pagaram salários das atletas: Santos, Corinthians, Vitória e Iranduba. Já na segunda divisão, a maioria dos dirigentes não transfere o pagamento para as jogadoras – e quem reclama ainda é dispensada.
“Estamos numa corda bamba, sem saber o que vai acontecer. A gente vai pular no buraco pra ver se morre”, diz Dani. Segundo a jogadora, qualquer contrato com patrocinadores feito no início do ano já está fora da jogada. Nesse momento, fica ainda mais escancarado o amadorismo do futebol feminino brasileiro. E a valorização da profissão começa onde todas essas meninas tiveram dificuldade: no início da carreira. As categorias de base, primordiais, fortalecem a modalidade – uma das maiores diferenças entre o Brasil e o utópico Estados Unidos. Por enquanto, o principal pilar de sustentação das jogadoras brasileiras é a sorte: primeiro, nascendo no lugar certo e na família certa; segundo, estando no lugar certo, na hora certa (com o olheiro, ou olheira, certo).
A jornalista e ex-jogadora Alline, contudo, faz uma ressalva: “A gente só não pode se fazer de vítima, temos que nos colocar como vitoriosas”.
Assim como a geração de Sissi, que cortou cabeças de boneca, passou por cima da proibição do futebol feminino e carregou um Brasil inteiro até a China para disputar um mundial experimental sem apoio da CBF, à geração da Dani caberá superar os desafios da pandemia – e a seguinte, com certeza, também terá suas próprias conquistas. Mesmo nos Estados Unidos, sempre citado como exemplo a ser seguido na modalidade, as americanas, encabeçadas por Megan Rapinoe, lutam pelo salário igualitário entre homens e mulheres, o movimento #equalpay.
“A gente sempre tem que ter um espelho. Minha geração vê uma Cristiane, uma Marta, uma Formiga jogar e sente muita gratidão por tudo o que elas já fizeram pelo futebol feminino”, afirma Dani. “Acredito que as meninas mais novas também vão poder olhar para uma Gabi Nunes, uma Victória Albuquerque [Corinthians] e, espero algum dia, eu para se espelhar. As coisas vão melhorando.”
Lá de trás, e lá de cima da América, Sissi observa o Brasil, com saudade e carinho.
“No final, a solução para o futebol feminino está com quem tem poder no Brasil. Mas a gente continua brigando, falando, torcendo e sonhando”, diz.
Por Amanda Péchy
amandapechyduarte@gmail.com