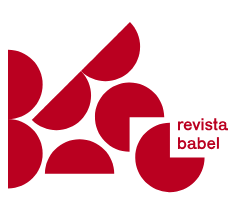Os desafios das mulheres que trabalham na cobertura esportiva
Lívia Laranjeira, do SporTV; Renata Mendonça, do Dibradoras; Monique Danello, do Esporte Interativo; Mayara Munhos, da ESPN; Gabriela Moreira, da ESPN; Clara Albuquerque, do Esporte Interativo; Olga Bagatini, do Lance! e Myussa Camillo, do Esporte Interativo: elas contaram os percalços que enfrentam na carreira por serem mulheres
“Na hora que você chega no jogo, é de gostosa pra baixo. Gostosa é levinho.”
“Se a Mancha começar a gritar ‘vaaaacaa’ você vai entender o recado.”
“Mas o que foi que você fez pra entrar na ESPN?”
Canal 1. Mesa redonda pós-jogo. Quatro comentaristas, quatro homens.
Canal 2. Uma reportagem sobre o jogo A. No campo, um repórter entrevista o jogador. De homem. Para homem.
Canal 3. VT de uma partida recém-terminada. A voz que narra os lances? Homem, é claro.
É domingo, oito da noite. Fim de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de futebol masculino da série A. Milhões de boleiros se posicionam em frente a suas múltiplas telas — para os espectadores do século 21, um combo de celular, TV e computador — e degustam absortos os comentários e análises dos acontecimentos da tarde (“mas afinal, foi mão na bola, ou bola na mão?”).
Para os que saciam a sede dos 150 milhões de brasileiros fãs de futebol — segundo o Censo de 2010 do IBGE —, as tarefas são infinitas num domingo à noite. Só na TV, entre canais abertos e pagos, as emissoras brasileiras transmitem mais de 400 horas de programação esportiva por semana, sem contar as transmissões não previstas na grade. Com todo esse conteúdo, daria para encher pelo menos 17 dias ininterruptos com conteúdo esportivo.
É esporte que não acaba mais. No entanto, nessas 400 horas de programação, parece não haver espaço para nada além da participação masculina. Nos canais de esporte da TV fechada, apenas 13% dos profissionais que aparecem na tela são mulheres, segundo um levantamento do UOL Esporte feito no ano passado. O boleiro, com “O”, já se acostumou a ligar a TV e encontrar por lá outros homens, no campo ou na mesa redonda.
Mas as 13% resistem. Mesmo que em menor número, lá estão elas. As jornalistas esportivas. Mulheres. Sempre minorias nas redações, respondendo a chefes homens e falando para uma audiência majoritariamente masculina, elas desbravam a cada dia um mundo que ainda lhes parece pouco amigável.
“Você tem que pular obstáculos muito maiores para provar que é capaz”
Faz cinco anos desde que Gabriela Moreira decidiu trocar o cargo de repórter especial de segurança pública n’O Dia pelos bastidores das instituições esportivas na ESPN. E de lá para cá, “provar” é algo que ela faz todos os dias.
Até então, apesar do amor por esporte e das frequentes tardes no Maracanã, Gabi não havia trabalhado efetivamente na área, e cobria segurança pública em veículos como EXTRA, CBN e O Globo. O futebol, no entanto, sempre esteve presente. Ela começou a jogar no interior de Minas, em meio aos empregados da fazenda do pai. “Era eu no meio de um monte de homens adultos”, lembra. Saiu de casa aos 14 anos, jogou no pré-universitário dos Estados Unidos e, quando voltou e foi morar no Rio, chegou até a passar em uma peneira do Fluminense, mas logo trocou o futebol profissional pela faculdade de jornalismo.
Anos depois, a cobertura do viés mais político do esporte rendeu a Gabi o posto de referência na área. Hoje, ela é a única jornalista mulher da ESPN a comandar um blog no portal principal da emissora, e suas reportagens, frequentemente trazendo algum furo dos bastidores esportivos, a tornaram presença constante nos programas da grade.

Todo esse cacife, contudo, não impede as sobrancelhas de se levantarem com desconfiança, de novo e de novo, cada vez que ela dá uma informação. Um dia antes de nossa conversa, Gabi havia acabado de publicar que a Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, passaria a proibir os gritos de “bicha” no estádio. A torcida, contudo, resolveu negar que esse grito sequer existia. Foram dias intensos. “As redes sociais deixaram a gente muito exposta a opiniões completamente degradantes. Geralmente as notícias que eu escrevo não agradam. Mas te convido a olhar quando um colega homem escreve, como é que eles são recebidos. Que tipo de comentários são feito deles e que tipo de comentários são feitos a respeito das mulheres.”
E nem sempre os comentários desestimulantes vêm só dos fanáticos em redes sociais. “O seu interlocutor, o jogador ou dirigente que você tá confrontando, sempre te olha com um olhar desconfiado e excludente. Do tipo ‘não, essa menina não sabe do que ela tá falando. Ela não entende de futebol, essa pergunta dela não faz sentido por isso’. E dos colegas também. O tempo todo. É claro que tem muita gente que não é machista ou preconceituoso. Mas tem TV’s importantes no Brasil que, por exemplo, não escalam mulheres pra fazer transmissões de finais, de clássicos. Você tem que pular obstáculos muito maiores para provar que é capaz.”
A baiana Clara Albuquerque, do Esporte Interativo, foi por muito tempo a única mulher comentarista de jogos de futebol masculinos. Ela começou a comentar na TV Bahia, durante o Campeonato Baiano de 2011. Depois, foi para o Premiere FC e o SporTV, ambos da Globosat, antes de chegar ao Esporte Interativo — onde comentou a série C antes de virar correspondente na Itália.
Mas o papel de comentarista, de partidas ou nos programas de debate, ainda é majoritariamente restrito aos homens. Para Clara, há, sim, uma barreira — dos torcedores e dos que contratam. “Não tenho dúvida de que ainda há preconceito. Não é à toa que não tem comentarista mulher na televisão. E com certeza existe muito mais mulher que tem conteúdo e conhecimento para isso, mas que não teve a chance”, diz. “Quando um cara está ali te assistindo e recebendo sua informação, se você é um comentarista homem e ele discorda de você, o primeiro ataque é dizer que o comentarista torce para o time rival ou está tentando manipular alguma coisa. Mas se você é mulher, o cara já diz que você não entende de futebol e parte até para ofensas mais pesadas, em relação a assuntos pessoais, que a gente tem de relevar para seguir em frente. Isso mostra que existe um preconceito e a mulher tem um trabalho maior pra mostrar que entende.”

“A mulher tem que ser perfeita. Ela não tem direito de errar”
Repórter do SporTV há quatro anos e ativa nas redes sociais, Lívia Laranjeira não se cala quando o assunto é desrespeito às mulheres no esporte. O dia em que nos encontramos foi logo após a bandeirinha Tatiane Sacilotti anular incorretamente um gol do Botafogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que daria aos cariocas uma vantagem de 2×0 sob o Sport — o Botafogo se classificou mesmo assim, mas com mais dificuldade do que se o gol tivesse sido validado. Inconformada com as ofensas da torcida à auxiliar, Lívia reuniu em seu Facebook imagens de comentários que iam de “Vai pra pia” a “Mulher bandeirinha já ficou provado que não dá”.
“A gente tem que cobrar, tem que exigir que os árbitros estejam mais bem preparados? Claro. Mas ela não está sendo criticada por um erro; está sendo criticada por ser mulher, por achar que ela podia OUSAR trabalhar com futebol sendo mulher. ‘Tá vendo, eu avisei que futebol não é ambiente pra você’”, diz a repórter.

Comentários sobre a bandeirinha Tatiane Sacilotti, reunidos por Lívia em seu Facebook. Foto: Reprodução
Lívia, que ficou conhecida por cobrir o acidente envolvendo o avião da Chapecoense no ano passado, acredita que o caso da bandeirinha mostra como mulheres ainda não são bem-vindas no meio do futebol. “Em jornalismo é a mesma coisa. Pra tudo que você faz, questiona-se a sua vida sexual, a sua competência. ‘O que você fez pra conseguir essa exclusiva? Deve ter aberto as pernas pra alguém’. Os homens nunca vão saber o que é passar por isso.”
São-paulina e nascida no interior paulista, Renata Mendonça e mais quatro amigas criaram em 2015 o portal Dibradoras — um site esportivo feito por mulheres e com cobertura de esporte feminino. Para além dos milhares de seguidores do Dibradoras, Renata também foi estagiária na ESPN, produziu conteúdo sobre a Copa do Mundo de 2014 na BBC e segue trabalhando com esporte na emissora britânica. Ela nunca teve dúvidas de que queria atuar no jornalismo esportivo, mas aponta que a desconfiança prévia exige que as jornalistas sejam sempre impecáveis. “Mesmo que você não tenha dado motivo algum, editores desconfiam que você não vai saber isso ou aquilo. A mulher tem que ser perfeita, ela não tem direito de errar nem uma vírgula quando ela tá fazendo esporte. Se ela errar, é porque ‘ó, tá vendo, não é pra mulher isso aí’. O homem tem mais licença pra errar; a mulher, não. No esporte ela precisa ser 150% boa, senão, não vai ser contratada. Enquanto o homem, se for bonzinho, já tem o espaço dele. Exige-se mais da mulher porque já se parte do pressuposto de que ela não vai ser boa o suficiente.”
“Você tem que provar tudo o tempo todo. E é muito legal quando você consegue. Mas você não vai conseguir responder tudo o tempo todo, porque ninguém é impecável”, completa Lívia.
“Imagina quando eu crescer”
Uma das primeiras jornalistas esportivas de que se tem notícia foi Isabela Scalabrini, que fez parte da primeira equipe do Globo Esporte, em 1979. Se fazer jornalismo esportivo para uma mulher já é difícil hoje, imagine na década de 1980. Graças a uma “chefia moderna”, como ela mesma declarou mais tarde, a jornalista ganhou seu espaço e, embora cobrisse mais esportes olímpicos do que futebol, ficou marcada na história da televisão brasileira.
Depois de Scalabrini, entre os anos 1990 e 2010, vieram nomes como Mylena Ciribelli, na Manchete e na Globo; Soninha Francine, na ESPN; Milly Lacombe, no SporTV; Marluci Martins, no Dia e no EXTRA; Renata Fan, na Band.
Isabela Scalabrini fez parte da primeira equipe do Globo Esporte, em 1979. Foto: Arquivo TV Globo
Para essa primeira geração de desbravadoras, os obstáculos eram, há apenas dez anos, quase tão grandes quanto os de Isabela Scalabrini em 1979. Soninha, ex-VJ da MTV e hoje trabalhando na política, ouviu do técnico Vanderlei Luxemburgo, no ar, que era “uma boa entrevistadora” e “muito inteligente”, mas “não entende nada de futebol”; Marluci, por sua vez, diz ter sobrevivido a décadas de jornalismo esportivo sem passar por episódios de discriminação de gênero, mas, há alguns meses, fez sua amarga estreia nesse rol — ao ouvir nas redes sociais que, “se tivesse alguém que a amasse e preenchesse seu tempo, não o perderia fazendo o mal e exercendo sua profissão de forma tão suja”, graças a uma notícia sobre o Flamengo que desagradou à torcida; Milly, conquistando a duras penas seu espaço nas mesas redondas então 100% masculinas do SporTV, teve a carreira esportiva abreviada ao se desentender no ar com o então goleiro do São Paulo, Rogério Ceni (fosse Milly um homem, a carreira teria acabado também?).
Apesar dos percalços, assistir a Mylena Ciribelli no Esporte Espetacular nos anos 2000 foi justamente uma das coisas que motivou Myussa Camillo, então uma jovem corinthiana apaixonada por futebol e hoje coordenadora de reportagem do Esporte Interativo. “Eu já achava ela incrível. Desde pequena eu olhava e falava ‘olha, imagina quando eu crescer…’”
Paulistana da zona leste, Myussa cresceu assistindo ao pai em peladas de futebol e levando conteúdo esportivo a qualquer lugar que pudesse — até ao grêmio da escola. Mas, na hora de ligar a TV, eram poucas as referências.
“A parte de futebol ainda era muito masculinizada. Era um universo bem dos homens. Por mais que você visse mulheres na apresentação, quando via reportagem feminina era de esportes que não eram massificados — todos os outros menos futebol. Se tinha uma reportagem foda de badminton, quem fez foi uma mulher. Pela sensibilidade, pela nossa facilidade de trabalhar com emoção, de ter percepção… Por todas as coisas que Freud explica. E às vezes a gente até pode contar histórias melhor, mesmo. Então, as mulheres eram colocadas muito nessa situação: pra acompanhar o vôlei, o basquete”, lembra. “O futebol a gente demorou pra engrenar.”

Myussa, no fim, não tornou-se a Mylena Ciribelli: escolheu os bastidores. Se formou em Rádio e TV, e hoje coordena uma equipe de 12 pessoas na sucursal paulista do EI. Agora, é ela quem manda.
“Eu, como gestora, entrevisto pessoas. E os candidatos homens, num primeiro momento, é meio ‘olha, ela é coordenadora de reportagem, ela tá mandando nos repórteres aqui’. Tem isso. Durante a entrevista, é super respeitoso, óbvio, a pessoa está nervosa. Mas tem um ‘ah, oi’. Sabe? Tem um lado de olharem pra mim e ‘nossa, caramba, olha onde ela tá’ — mesmo que subjetivo. É um estranhamento gostoso. Eu gosto de sentir essa sensação. Sim, eu estou aqui. Sim, sou eu que vou te entrevistar. Um beijo.”
“Então explica aí a regra do impedimento…”
O primeiro argumento para a ausência de mulheres na imprensa esportiva é a falta de interesse delas por esporte e o consequente despreparo para lidar com o assunto. Afinal, mulher, dizem, não gosta de futebol.
Mas será mesmo? Segundo o censo de 2010 do IBGE, a população brasileira é 51% feminina. São 103 milhões de mulheres segundo dados atualizados em 2013. Em 2010, quando o Censo foi realizado, quase 70% delas — mais de 67 milhões de mulheres — se declarou torcedora de algum time. É mais ou menos uns 40% de todos os torcedores do Brasil.
A audiência feminina já representa um terço do total nas maiores emissoras esportivas por aqui, segundo dados internos de ESPN, Esporte Interativo e Globosat (que responde pelos canais SporTV, Combate e Premiere). Na transmissão de 2016 da NFL, liga de futebol americano, a ESPN afirma que as mulheres foram mais de 40% dos espectadores atingidos. Na final da Copa do Mundo de 2014, metade da audiência nas televisões brasileiras veio das mulheres, segundo um estudo da agência de pesquisas Repucom. O mesmo levantamento aponta que, no Brasil, 34% das mulheres se interessam por eventos esportivos e 47% se interessam por assisti-los na TV.
Os números provam, portanto, que as mulheres também se interessam por esporte. Mas a desconfiança e o preconceito tornam a vida delas muito mais difícil nesse meio, e antes mesmo de chegarem ao jornalismo. “‘Ah, você gosta de futebol? Explica aí a lei de impedimento, então’” é pergunta recorrente na vida de Lívia — e na de muitas mulheres. “Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso pra um homem?”, questiona a repórter do SporTV.
A exclusão costuma começar logo na infância. Foi o caso de Mayara Munhos, que trabalha com edição de vídeos na ESPN e é autora de um blog sobre jiu-jitsu no ESPNw — portal da emissora dedicado a conteúdo sobre esporte feminino. Embora sua modalidade preferida seja mesmo o “jiu”, que ela luta desde os 13 anos, Mayara também se arriscava no futebol. Mas na hora de jogar na escola, não era tratada da mesma forma que os meninos. “Hoje eu paro pra pensar e era ‘ah, a Mayara vai jogar futebol, vai lá pro gol’. Eu ficava triste de ir pro gol, mas ia. Na época, eu não percebia. Se fosse hoje em dia, ia dar ‘aloka’”, brinca.

“Você é mulher e, de repente, não jogou”
Herdando o amor por esporte da família gaúcha, Olga Bagatini também nunca se limitou a assistir. A jornalista, que já trabalhou na Gazeta Esportiva e hoje escreve para o jornal Lance!, vivia com os joelhos ralados na infância, e já praticou muitos esportes diferentes — antes de o basquete se tornar o preferido. “Teve um ano na quarta série que eles começaram a separar menino e menina na educação física. E a professora que dava aula pra menina dava alongamento, dança… eu odiava, odiava! Morria de inveja dos meninos que ficavam jogando. E lembro que eu enchi tanto o saco dela, que ela me colocou pra jogar com eles. E jogava de igual pra igual”, lembra.
Jogar “de igual pra igual” também foi um jeito de Olga se afirmar como torcedora. “Como eu jogava, os caras meio que me respeitavam na rodinha, sabe?”. A história dela é uma constante entre as meninas, e foi demonstrada às claras neste mês por Guto Ferreira, treinador do Internacional. Ao ser questionado pela repórter Kelly Costa sobre o baixo rendimento do Inter na vitória contra o Luverdense, pela 15ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro, Ferreira disparou um sonoro “não vou te fazer essa pergunta porque você é mulher e, de repente, não jogou”.
Ao invés de responder sobre as dificuldades de seu time em campo, o técnico preferiu desacreditar a repórter usando, como argumento, seu gênero. Jogar, então, tornou-se pré-requisito para entender de futebol? Só para as mulheres, ao que parece.
“Um bom repórter não precisa saber jogar bola, precisa ser bem informado e saber fazer boas perguntas”, escreveu Lívia em seu Twitter após o episódio. A lógica do “assisto, logo, jogo” não se repetiu para ela, que não se encaixava muito no estereótipo da menina-moleca que é frequentemente empregado às mulheres no esporte. Futebol, para Lívia, era no sofá com o pai, aos domingos — o que não a faz menos apaixonada e nem menos apta a exercer sua profissão. “Isso dá tilt na cabeça das pessoas: ‘Como você gosta de futebol mas não sabe jogar?’. Mas eu não era boa, achava que eu passava vergonha. Não era a minha”, conta.
Já na faculdade, Lívia estagiou por dois anos nas revistas femininas Criativa e Glamour, e chegou a ser contratada como repórter por lá antes de ser selecionada para o Passaporte SporTV, que a trouxe ao jornalismo esportivo. Estereótipo, portanto, não é com ela. “Eu era bem patricinha, bem menininha, bem meiga e fofa… Então, circulava bem entre as duas polarizações. Eu era muito amiga das meninas e gostava de falar de menino e maquiagem e, por outro lado, também conversava com os meninos e falava de jogo. Isso causava um estranhamento.”

Jogando ou não, o fato é que, para toda menina apaixonada por futebol, o respeito nunca vem fácil. Renata, do Dibradoras, conta que, quando era criança e morava em Sorocaba, no interior de São Paulo, o pai decidiu levar o irmão ao estádio, mas não a convidou. “Lógico que na época eu não fazia essa relação, de que ele não me chamou porque eu sou menina e menina não ia querer ir ao jogo. Mas hoje isso é muito claro para mim.”
“A vida toda você vai enfrentar isso, de pessoas desconfiando da sua capacidade de entender, de gostar, de saber. Quando você pede pra taxistas colocarem no jogo, fica um ‘ah, mas você gosta de futebol?’”, diz Renata.
Mesmo jogando e trabalhando com esporte, Olga diz que ainda hoje precisa dar “a famosa carteirada”. “Depois de um tempo de discussão, quando o cara começa a me diminuir, eu falo ‘não, mas eu trabalho na Gazeta, trabalho no Lance!, sei do que eu tô falando.’”
“Apesar de você ser muito bonita”
Além de todas as dificuldades, as jornalistas ainda carregam o fardo de lidar, diariamente, com a hipersexualização da figura feminina no esporte. De “inocentes” rankings de musa a situações extremamente degradantes, o assédio atinge não só as mulheres da imprensa, mas também torcedoras, atletas, dirigentes e profissinais de arbitragem.
“Eu vou discordar de você, apesar de você ser muito bonita”. O comentário veio do então treinador do Fluminense, Levir Culpi, para uma repórter que lhe fazia uma pergunta durante uma coletiva de imprensa do clube, no ano passado. Assistindo ao episódio em casa, Lívia reproduziu a frase no Twitter, ao lado de um “até quando?”. Mais de 300 compartilhamentos depois, o caso chegou aos ouvidos do próprio treinador.
“Foi uma enxurrada de ‘feminazi’ ou ‘você preferia que chamassem ela de feia?’”, lembra a repórter do SporTV. “Eu gosto do Levir, ele é um cara legal. Mas foi uma questão de pensar um pouco. Primeiro que, em termos de sintaxe, essa frase não faz sentido. Qual a relação de causa e efeito entre uma coisa e outra? E isso não tem que ser colocado em questão quando ela está exercendo o trabalho dela. Não é legal. A gente não se sente elogiada, valorizada. Não importa toda a análise que eu to fazendo, o que é importa é se eu sou ou não sou bonita”.
Monique Danello, repórter do Esporte Interativo e hoje setorista do Flamengo, tem no currículo uma cobertura de Champions League, duas Olimpíadas, o primeiro título mundial de handebol do Brasil e outros tantos momentos marcantes. Um currículo de dar inveja. Mas quando ela aparece em transmissões do EI no Facebook, ninguém liga muito para o que ela tem a dizer. “Quando a gente começou a fazer os lives, ninguém comentava sobre os assuntos que a gente tava falando. Era uma enxurrada de comentário de ‘linda’, ‘aparece na frente da câmera, você é linda’. O que é uma idiotice”, diz Monique.

Na final da Copa do Brasil de 2015, entre Palmeiras e Santos, Gabi Moreira passou a partida ouvindo gritos de “vagabunda”. “‘Você vai ver eu te chupando todinha, sua vagabunda’, foi um dos gritos que ouvi por longos 40 minutos. Gritado por dezenas de torcedores, na frente de pessoas com as quais me relaciono diariamente. Não pisquei, não desviei o olhar. Respirei bem de perto. […]”, escreveu a repórter, na ocasião, em sua página no Facebook. “O machismo não se instala somente no futebol. É que aqui, ele ganha ares de licença poética. O machismo que vi na polícia e na política é o mesmo. Mas aqui, ele sai entre um ‘olê, olê, olá’, e vez em quando, depois de um ‘chupa’. […]”
Ofensas às jornalistas mulheres não vêm só dos torcedores, mas acontecem também dentro das redações. Ou ao vivo, em programas cuja única função da profissional é ser “elogiada” por colegas homens. Lívia conta que, hoje, virou a “feminista chata”, e esse tipo de comentário parou — com ela, mas não com as outras meninas. “Eles tentam te intimidar, e se você mostra fraqueza, é menininha. Se você dá na cara, aí sim merece respeito”, diz. “São poucas as meninas que falam [sobre assédio]. Porque a gente tem medo. Tem horas que você não quer falar, você não quer se indispor. Pô, a gente está falando de carreira. Porque acaba. Com a da bandeirinha, com a da repórter, com a da mulher que tem a pachorra de querer trabalhar com esporte”.
“Então, voltamos naquilo de que a menina tem de ser muito, muito apaixonada por futebol para passar por cima de todas essas coisas, senão ela acaba desistindo em algum momento”, completa Clara. “Porque não faz sentido você ficar batendo em algo que não é aceita e com o qual não consegue se divertir. Provavelmente, o caminho de muitas meninas que poderiam gostar de futebol é interrompido por causa disso.”
Mas apesar dos desafios, para todas elas, o sentimento é um só: as coisas estão mudando, ainda que lentamente. E ter mais mulheres falando de esporte na imprensa é um grande passo. Para que mais meninas entrem no mundo esportivo e para que mais delas, quem sabe, tornem-se jornalistas.
Mayara, no fim, faz uma analogia com o jiu-jitsu: “no jiu, eu já fui treinar em academias em que não tinha menina. Mas a partir do momento em que entra uma, começam a surgir muitas, porque uma vai indo atrás da outra. E em tudo é assim”. Representatividade importa, sim — e também no jornalismo esportivo.
Por Carol Oliveira
carolinaoliveirafr@gmail.com