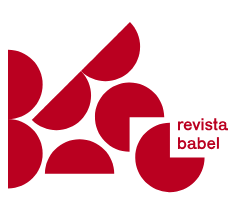São Joaquim da Barra não é uma cidade grande. Tem gente que a classifica como interior de Franca, que por sua vez é interior de Ribeirão Preto, que por fim é interior de São Paulo. Ao mesmo tempo, ela não é uma daquelas cidades minúsculas que mal existem nos mapas. Ela é pequena, mas nem tanto. Mas também não chega a ser uma cidade que as pessoas reconhecem pelo nome.
Ela é exatamente o meio termo. Segundo a classificação do IBGE, para ser considerada uma cidade pequena, ela deve ter menos de 50 mil habitantes. Acima disso, já é considerada média-pequena. São Joaquim da Barra, no entanto, é casa de exatamente 50 mil pessoas.
Como toda cidade relativamente pequena, ela se orgulha de ter algumas características notórias. É cidade natal da apresentadora Ana Maria Braga, sede da anual Festa da Soja, casa dos deliciosos doces Somel e já foi berço dos melhores calçados do interior de São Paulo.
Ascensão
Atualmente, o título de capital dos calçados é de Franca, a maior produtora da América Latina. Há apenas 60 quilômetros de São Joaquim da Barra, a cidade abriga mais de mil fábricas de sapatos. Mas antes de Franca produzir para marcas como Carmen Steffens e Democratas, a vizinha desconhecida já tinha feito história com as fábricas familiares.
“São Joaquim teve essa aptidão calçadista antes de Franca. Tinha a família Estores, família Sostena, família Mauad, Tobias e a nossa, os Rossini”, diz Fidélis. Ele é morador da cidade e recebe o mesmo nome do avô, que consertava sapatos em casa na década de 1910.
Fedeli Rossini foi um imigrante italiano que chegou ao Brasil em 1897. Vindos de uma comuna com pouco mais de 700 habitantes na Itália, sua família escolheu um pequeno povoado para morar. Na época, o vilarejo não recebia o nome de São Joaquim da Barra – título que só foi se consolidar em 1944.
O ofício de sapateiro se consolidou de maneira informal para Fedeli – ingressar em uma universidade não passava de um conceito distante para os moradores do interior. Ele era profissional de conserto no país natal e tinha um encanto especial por consertar solas de sapato. Ele viu a oportunidade de continuar o trabalho dentro própria casa. “Naquela época os sapatos duravam muitos anos, e as pessoas conservavam. Era difícil ganhar dinheiro para comprar sapato igual a gente compra hoje”, diz o neto.
O filho de Fedeli, Adolfino Rossini, aprendeu bem o ganha-pão do pai. Ele foi trabalhar como operário para os Mauad, uma das famílias joaquinenses que já tinha visto a oportunidade de abrir uma fábrica de calçados. Lá, ele aperfeiçoou ainda mais o ofício. Para ele, próximo passo era claro: construir a própria marca de calçados.
Foi na rua da Praça Sete de Setembro, número 34, que nasceram os Calçados Rossini. A confecção e loja funcionavam dentro da casa da família. Na frente, ficava (e ainda fica) a igreja matriz da cidade, o que garantia um bom movimento na região. Até hoje, os entornos da praça resumem o centro de São Joaquim da Barra.
Adolfino montou a marca com os três irmãos, dois de sangue e um postiço. Todos os moldes de sapatos eram esculpidos a mão com base em desenhos de revistas. O calçado também podia ser encomendado sob medida, atendendo os pedidos dos homens que usavam números fora do normal. “Meu pai fazia uns sapatos gigantes. Ele falava que era número 47, mas tinha cara de uns 57” diz Maria Rita, filha do sapateiro.
Depois da loja, eles deram um passo além. A falecida rede de bancos Nossa Caixa instituiu um programa de financiamento que permitiu os irmãos construirem uma fábrica ainda maior, no início da década de 1950. O maquinário foi todo importado da Alemanha e Itália, e, com mais de 100 funcionários, dava conta de produzir 350 pares de calçados por dia.
Por dentro da fábrica
Fidélis, filho mais novo de Adolfino, ainda consegue desenhar o emblema da marca de calçados. Em um guardanapo de papel, ele mostra o R grande e bem caligrafado seguido pelo sobrenome da família. “De vez em quando, o meu tio deixava eu pegar um pedaço de sola ou de couro para passar na máquina e fazer furinhos. Eu era moleque, gostava de brincar com isso”.
Fidélis não chegou a trabalhar na fábrica, mas não era raro ver jovens ajudando na montagem. “Hoje não tem mais isso, mas antigamente as crianças tinham que aprender o ofício da família”, conta. Na época, é bom lembrar, ainda não havia legislação específica sobre trabalho infantil. O Estatuto da Criança e do Adolescente só seria criado décadas depois, em 1990.
Os materiais recebidos na fábrica eram cortados e seguiam para a montagem de acordo com os moldes. As solas eram lixadas e juntadas ao sapato usando pregos, cada um martelado individualmente. A técnica tornava os calçados extremamente duráveis, mas nem um pouco confortáveis. Um par de botinas infantis sobreviveu até 2020 – um pouco desbotadas e encardidas, mas totalmente utilizáveis. O couro e a sola, no entanto, são tão rígidos que fariam calos em qualquer criança que ousasse experimentá-los.
Cada fábrica de São Joaquim da Barra tinha sua especialidade. O fabricante José Tobias era chamado de “o maioral” dos suspensórios, cintos e artefatos de couro. As Sandálias Tobias faziam calçados delicados com perfeição. Para os Rossini, o equivalente eram as botinas.
A fábrica fazia apenas calçados masculinos. Eles podiam ser sapatos sociais ou “de serviço”, como eram chamadas as botinas. Os primeiros eram para cavalheiros que passavam mais tempo na cidade, enquanto os segundos eram direcionados aos trabalhadores das lavouras, o que justifica a rigidez das botas.
Ao passar pelas etapas de acabamento e retoque, os dois tipos de sapatos iam em embalagens diferentes. Os calçados sociais eram entregues em caixas brancas e requintadas, com o emblema da marca estampado no topo. Os de serviço não recebiam o mesmo refinamento – eles eram embrulhados em um papelão grosso, selado com apenas um adesivo para segurar as pontas.
O maior orgulho de Adolfino, no entanto, era atender os clientes individualmente. Ele era um dos únicos da região que fazia calçados sob medida para deficientes. “Ele fazia todas as formas e os moldes, não era simples. Tinha um homem em São Joaquim que só tinha um toco no lugar do pé, na sequência do calcanhar. Meu pai fazia sapato pra ele. Todas as pessoas deficientes da região iam lá pra ele fazer. Ele tirava a medida, desenhava o pé da pessoa, fazia a forma e o calçado. E quando ela precisasse de outro sapato, ele já tinha a forma e fazia o novo”, conta Maria Rita. “Isso tudo sem nem ter feito faculdade. Acho que ele teria dado um bom engenheiro”.
Um documentário sobre a cidade filmado em 1954 classifica os Calçados Rossini como “um dos melhores do Brasil”. Os sócios transportavam os sapatos para lojas em São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro e outras cidades da região. “Meu tio levava uma kombi lotada pra São Paulo uma vez por semana, ou então eles iam de transportadora e trem para os outros lugares”, conta Fidélis.
Grande parte da publicidade era na base do boca a boca. A primeira revista editada na cidade apresentava a seguinte propaganda: “Calçados Rossini – Fabrica-se todo tipo de calçado, sob medida. Preços módicos – especialista nas afamadas Botas Rossini”. Um dos poucos anúncios físicos da fábrica ficava estampado em um dos bancos da Praça Sete de Setembro. Hoje, ele foi removido do espaço público e enfeita o quintal de uma das netas de Adolfino.
Em 1965, a cidade já comportava 26 fábricas de sapato. Entre 1940 e 1960, São Joaquim da Barra aumentou sua produção industrial em 841%, segundo dados do IBGE. Ela poderia ter se tornado referência em produção de calçados no Brasil, mas não foi o que aconteceu; e os mesmos motivos que levaram ao “boom calçadista” foram responsáveis por sua derrota.
Início do fim
Os sapatos da região eram de qualidade, vendidos por um preço justo e bastante conhecidos. De acordo com os moradores, os calçados joaquinenses eram vendidos em todo o centro-oeste do Brasil na década de 1960. “Nos bares, nos bancos, nas festas, quase sempre as conversas acabavam girando em torno dos calçados”, conta uma crônica sobre a cidade. Tudo que qualquer marca almeja conquistar.
Acontece que as fábricas nasceram em família – e começaram a desandar por motivos familiares também. Mesmo quando os calçados estavam no auge, a administração financeira já não andava bem. Se hoje as empresas contam com departamento financeiro, assessorias e marketing, naquela época era na base da confiança e muita lábia. “Tomava-se muito cano. Não tinha essas cobranças certinhas. Tinha que buscar o cheque lá do revendedor ou receber em dinheiro”, diz Fidélis.
Mesmo quando o dinheiro entrava, nada garantia que ele seria bem usado. Além de Adolfino, os outros sócios dos Calçados Rossini eram Osvaldo, Romualdo e Argeu. Os dois primeiros era irmãos de sangue, enquanto o terceiro era filho de uma funcionária que trabalhava na casa, que acabou casando com o patriarca da família.
A divisão da receita era igual entre os sócios, mas faltou separar o pessoal do administrativo. Como em toda família, a sensação de competição estava sempre presente. Rita conta a perspectiva pela visão das mulheres da família: “O que uma família tinha, a outra tinha que ter também. Se chegava uma geladeira nova no mercado, tinha que comprar pra todas as esposas dos sócios. Com máquina de roupa era a mesma coisa”.
Não haveria problema se o dinheiro saísse das contas bancárias dos sócios, mas não era o que acontecia. Tudo era comprado às custas da fábrica. “Não tinha uma retirada mensal, uma coisa certa. A gente comprava as coisas e mandava cobrar na loja. Meus tios iam pra São Paulo, ficavam em hotel, tinham vários gastos extras”, conta Rita.
O álcool era a última gota que faltava para o desastre. O hábito de beber depois do expediente é uma daquelas práticas que nunca mudam. Os bares e botecos da cidade pequena recebiam tanto os funcionários quanto os sócios quase todas as noites. Os nervos aumentavam, a discussão ficava acalorada e era confusão na certa. “Foi a pior coisa que já inventaram. Se eu pudesse, eu estourava tudo quanto é garrafa de bebida que eu visse pela frente”, diz a filha de Adolfino.
A bebida potencializava personalidades que já eram difíceis de lidar. Em São Joaquim da Barra, poucas pessoas reconhecem o nome Adolfino Rossini, mas todos sabem quem foi o seu Briguela. Era o apelido de Adolfino, justamente por causa de seu gênio forte, severo e briguento. A fama era tanta que o apelido acabou por substituir o nome do sujeito.
Não é à toa que ele foi o primeiro a sair da sociedade. A situação financeira da marca de calçados estava ruim, e as desavenças familiares só pioraram as questões. O fundador da fábrica saiu dos negócios com quase nada: uma kombi e notas promissórias dos outros sócios, que deveriam pagar as dívidas ao irmão quando o cenário financeiro melhorasse. A kombi voltou a ser emprestada à fábrica e jamais foi devolvida. As promissórias, nunca pagas, estão até hoje nas gavetas do escritório de Fidélis.
A família de Briguela, incluindo Fidélis, Rita e outros filhos, morava na mesma casa que abrigava a loja dos Rossini. Com a saída do pai da administração, as crianças viram as portas de casa serem lacradas com ripa madeira e prego. Não havia mais acesso para a loja. Ela continuava funcionando na parte da frente do imóvel, mas agora a família precisava entrar pelos fundos da casa, para não transpor o comércio que já era desafeto do pai. “Não sei se tinha uma conversa de que a loja era usada para outras coisas também… a gente era criança, não ficou sabendo”, diz Rita, que tinha menos de dez anos na época.
Seja o que for, Briguela queria distância de lá. Depois de uma briga com a esposa de um dos irmãos (o motivo também é incerto), ele não colocou mais os pés na fábrica. Ele voltou ao serviço de conserto de sapatos para ganhar trocados, mas não era suficiente para sustentar totalmente a família.
Anita Rossini é uma personagem quase oculta nessa história. Enquanto a fábrica nascia, crescia e começava a decair, a esposa de Briguela observava e trabalhava de dentro de casa, fornecendo o suporte e sustento que a família precisava. Ela fabricava e vendia cuecas, fazia bordado, comida e, segundo a filha, era “muito fuçada”.
Era a mulher que provia para a família quando o pai saiu da fábrica. Ele perdeu a principal fonte de renda, o que resultou em uma depressão profunda. “Foi uma época muito difícil. A gente tinha vergonha de pedir dinheiro pra ele e ele negar. Não porque ele não queria, mas porque ele não tinha dinheiro nenhum”, diz Fidélis.
“A minha mãe dizia ‘não pede dinheiro pro seu pai não, eu dou dinheiro pra vocês’. Ela tinha um avental cheinho. Eu lembro quando chegava domingo e a gente já ia no bolso do avental pra pedir dinheiro. Ela sempre teve”.
Enquanto isso, os outros sócios expandiram os negócios. Abriram uma outra fábrica, para uma segunda marca de calçados – dessa vez, sapatos femininos. A marca foi batizada de Calçados Clara, em homenagem à mãe dos irmãos Rossini. A decisão foi uma tentativa de aumentar a receita. Afinal, o mercado feminino costuma ter mais tendências do que os simples sapatos “sociais” e “de serviço” masculinos. Eles eram vendidos naquela mesma loja da Praça Sete de Setembro, ao lado dos calçados masculinos, bolsas, carteiras e chapéus.
Esse foi o último respiro antes da fábrica encerrar seus 20 anos de vida. Ela foi à falência por volta de 1970. Devia para funcionários, governo e os sócios ainda saíram quebrados. Esse foi o fim de muitas fábricas de sapatos joaquinenses, como acontece com milhares de empresas familiares até hoje. A partir daí, as famílias da cidade seguiram rumos diferentes.
São Joaquim da Barra, hoje
Nos anos 1990, a cidade ainda contava com 40 fábricas em funcionamento, mas já não chegava perto da produção da vizinha Franca. São Joaquim da Barra não é mais vista como referência nacional em fabricação de sapatos. Apenas duas fábricas daquela época continuam funcionando em 2020: as “Criações Andresa” e a “Joal Calcados Ltda”.
Segundo Fidélis, as famílias que antes controlavam as fábricas foram aos poucos mudando de ofício. Muitas souberam usar o lucro inicial dos sapatos para investir em grandes fazendas e latifúndios, pagos a longo prazo. Os Mauad, antigos patrões do Briguela, hoje controlam boa parte das terras da região, além de serem donos do Mauad Plaza, principal hotel da cidade.
Para os Rossini, foi um bar e restaurante modesto que tirou o pai da depressão e a família da crise financeira. Anita preparava a comida em um fogão a lenha no centro da cozinha. Briguela controlava a parte financeira durante o dia e a filha mais nova, formada em matemática, fechava a conta de noite.
A Praça Sete de Setembro continua lá, assim como a igreja matriz e o movimento do centro comercial. Bem na frente dela, encontra-se o primeiro prédio da cidade, coincidentemente construído bem em cima da antiga loja de calçados. No térreo do prédio, hoje encontram-se três agências de bancos: Santander, Itaú e Banco do Brasil.
O comércio não é o mesmo de 50 anos atrás. Hoje, os estabelecimentos mais visitados são uma Lojas Americanas e um supermercado Dia. Quase todas as farmácias da cidade são de redes e até um Subway conseguiu um espaço próximo ao centro. No entanto, algumas coisas não mudam. O coreto continua ativo, a sorveteria mais famosa da cidade ainda faz sorvetes caseiros, e talvez você ainda encontre um ou outro morador sentado na praça Sete de Setembro, relembrando a época em que São Joaquim da Barra era conhecida por fabricar alguns dos melhores calçados do país.
Por Maria Clara Rossini
mariaclararossini@usp.br