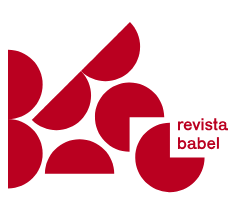Apesar da falta de estatísticas, mulheres, principalmente negras e moradoras das periferias, enfrentam enquadros abusivos. A falta de dados faz com que o assunto seja silenciado
Quando a viatura virou a esquina, já era noite e a avenida estava vazia. Todos foram enquadrados, incluindo os adolescentes que se aglomeravam na saída do mercadinho. Um grupo de meninas, reunidas no outro lado da rua, também foi abordado. Para a revista, uma policial mulher foi solicitada. “Eram todas menores de idade. Umas seis meninas”, conta Pedro*. Ele e sua namorada, Júlia*, haviam acabado de chegar no local para comprar cigarros. Pedro mal teve tempo de pagar. O tratamento dirigido a ele sofreu uma mudança brusca depois que os policiais descobriram que Pedro tinha passagem pela polícia. Júlia, dentro do carro, presenciava a cena, tomada pelo sentimento de impotência. “Rolou revista íntima vexatória nas adolescentes”, conta. Elas foram levadas ao banheiro do estabelecimento.
Já Daniela*, moradora da zona metropolitana de São Paulo, não costuma ter a mesma “sorte” das meninas às quais Júlia e seu namorado se referiram. Ela conta que são raras as vezes nas quais uma policial mulher faz a revista e ainda diz que, alguma vezes, os policiais a questionaram o que uma mulher estaria fazendo sozinha, à noite, na rua. “Deve ser uma vagabunda”, foi o que escutou em uma dessas ocasiões. Suas amigas, moradoras da mesma região, concordam. “Não tinha PM feminina e fui revistada do mesmo jeito. Fora a lição de moral nojenta”, recorda uma delas.
Lúcia*, assim como Júlia, é moradora do interior de São Paulo e é negra. Há muitos anos faz grafite e, nesse meio tempo, já foi enquadrada por policiais mais de uma vez durante seu trabalho. Ela diz que, nas abordagens, é normal ocorrer abuso psicológico. “Já fui empurrada contra a parede, chamada de ‘puta’”, relata.
Mariana*, também do interior do estado, apesar de ter sido abordada apenas uma vez, não se esquece do episódio. Na companhia de alguns amigos, foi parada na rua por um policial, que não portava nenhum tipo de identificação. Ela recusou ser revistada por um homem, ao que ele, após bater no próprio peito e indagar, em alto tom, se ela sabia com quem estava falando, ameaçou: “Se eu quiser eu abro as suas pernas e te revisto”.
Casos como esses, em que o enquadro é feito de forma abusiva, atingem silenciosamente muitas mulheres no país, mas a falta de dados concretos quanto a essas ocorrências faz com que o problema passe despercebido. Só quem vive o enquadro violento com frequência, ou o vivenciou pelo menos uma vez, pode relatar o sentimento. Contudo, é bem comum que as próprias mulheres calem-se sobre isso.
Maíra Zapater, doutora em direitos humanos, explica que, a abordagem policial popularmente chamada de enquadro é, na verdade, o que o Código de Processo Penal chama de busca pessoal, que consta no Artigo 242. Uma busca pessoal ocorre quando um cidadão ou uma cidadã são parados e revistados por um agente da polícia e essa revista independe de mandado. “Segundo a lei, o policial pode revistar em todas as situações em que a pessoa está em atitude suspeita”, afirma Maíra. “Ela dá uma descrição, mas é bem vaga, então cabe ao policial achar que a atitude é suspeita”. Esse é o grande problema dos enquadros. Muitas vezes eles são feitos baseados em construções sociais estereotipadas e de acordo com juízos de valor do próprio agente.
O enquadro nos moldes da lei
O Código de Processo Penal diz que a busca pessoal em mulher será feita por outra mulher da corporação policial. Mas Maíra aponta que, em casos nos quais a espera de um reforço feminino possa prejudicar a segurança dos policiais, atrasando a abordagem, um homem pode fazê-la e até revistar a mulher abordada. “É interessante de pensar o quanto essa cultura da violência de gênero na abordagem feita pela autoridade policial já é enraizada na sociedade ao ponto do legislador, em 1941, escrever no artigo que as mulheres têm direito de serem revistadas por outras mulheres”, acrescenta.
A violência baseada em gênero, tão infiltrada na sociedade brasileira, não deixa de atingir o campo policial e influenciar o comportamento dos profissionais. Dados relativos ao feminicídio, à violência doméstica e ao abuso sexual comprovam que as mulheres, na sociedade brasileira, fazem parte de um grupo extremamente vulnerável. Na rua, no transporte público, no trabalho e até mesmo no ambiente familiar. Infelizmente, não é diferente durante o enquadro, momento em que o homem, na função policial, está exercendo uma posição de autoridade.
“Você tem a sobreposição de duas hierarquias: a hierarquia de gênero e a hierarquia da autoridade institucional. Essa seria uma hipótese que eu trabalharia para explicar porque as mulheres são abordadas assim. É uma reprodução do que acontece em outros espaços”, afirma a doutora. De acordo com Maíra, situações em que não há uma atitude suspeita e o policial mesmo assim faz a abordagem ou quando a revista pessoal é feita de maneira violenta e abusiva, por exemplo, se encaixam no crime de abuso de autoridade. “Não dá para generalizar, mas também não dá para dizer que esses são atos isolados e pontuais. É evidente que deveria haver um tipo de política para punir os policiais que têm esse tipo de atitude”, pontua.
Maíra diz que são poucos os casos em que mulheres tenham denunciado algum tipo de violência de gênero praticada pela força policial e que ela desconhece episódios nos quais essa denúncia tenha gerado um processo, muito menos levado à uma punição. Ela diz que a burocracia da sequência que envolve identificação, investigação, geração de um processo e punição é um fator que torna complicado fazer a denúncia.
Para além disso, está o medo de falar sobre o ocorrido e de fazer uma denúncia, principalmente quando as vítimas moram em locais onde a presença policial é ostensiva. Outras mulheres acabam questionando a si mesmas se o que vivenciaram foi mesmo um caso de abuso ou de violência sexual. Revivendo, inúmeras vezes, aquele momento em suas cabeças, algumas acabam por se convencerem de que talvez não tenha sido abuso. É uma retórica muito comum entre as mulheres que sofrem violência doméstica, por exemplo.
Contudo, denunciar, em casos nos quais o enquadro policial tenha resultado em abuso, violência ou tenha causado constrangimento, é um direito. A denúncia deve ser feita na Delegacia da Mulher. Segundo Maíra, a ideia em torno dessa instituição seria a de haver uma equipe treinada e preferencialmente composta por mulheres que pudesse assistir todas aquelas que passassem por um tipo de violência, dentre elas a violência policial.
“Além dessa denúncia, que redundaria em um processo criminal, seria necessário a vítima recorrer à Ouvidoria da Polícia, que é quem vai, se for o caso, até mesmo afastar o policial da corporação e isso corre em paralelo à punição criminal. Sem citar o prejuízo de um processo civil por danos morais”, explica Maíra. No site da Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo, constam dados relativos ao número de abordagens policiais com excesso denunciadas pela população, porém não há especificação dos casos em que houve violência motivada por razões raciais ou de gênero, ou ambas.
Sabendo que há ocorrências em que meninas menores de idade são paradas e revistadas por agentes policiais, sejam homens ou mulheres, Maíra salienta a importância de saber que a Lei processual penal não se aplica a crianças e adolescentes. Ou seja, esse grupo não pode ser abordado e revistado pela polícia, é o que diz o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O Artigo 232 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) afirma que submeter crianças ou adolescentes sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento configura crime.
Para Maíra, o grande problema dos enquadros é a forma como a lei os regulamenta, colocando muito poder nas mãos dos policiais. “Eu não sei se a gente tem como fazer uma abordagem que garanta o respeito aos direitos humanos com a legislação sendo como é”, diz. É preciso olhar com atenção para casos em que o policial, ao considerar que uma pessoa é suspeita, poderá ser influenciado por estereótipos e preconceitos que carrega consigo, tornando os enquadros extremamente arbitrários. “Para a gente conseguir chegar nessa ideia de uma abordagem que consiga garantir a segurança pública com respeito aos direitos humanos, a gente precisaria de uma reforma na lei”, conclui Maíra.
A violência de gênero é racista
Ana*, uma das entrevistadas, citou a questão racial nos enquadros. Ela estuda em uma universidade particular, em uma região privilegiada do Rio de Janeiro, mas se distingue do perfil da maioria dos estudantes de lá. Até mesmo nas entradas das baladas, ela diz perceber que sua revista é feita de maneira mais minuciosa, em comparação com a de suas amigas.
Ao andar com o pessoal do Coletivo Negro da sua faculdade pela cidade, o tratamento recebido é ainda mais diferente. E é não incomum que o grupo seja abordado pela polícia no caminho para a universidade. “Mesmo que tenha algum aluno branco ali com a gente, só os negros são revistados”, conta. Na companhia de amigas brancas, ela é a única a ser abordada em enquadros policiais. “Afinal de contas, o que uma mulher pobre e preta estaria fazendo nas proximidades de uma universidade cara e de renome?”.
Para ela, o medo do enquadro é ainda maior quando vai visitar o namorado, que mora em uma comunidade, pois apesar de ela já ser considerada pacificada, ainda há presença das forças policiais.
A Diretoria Regional de Educação do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, ouviu 700 estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) sobre a questão do enquadro. O levantamento concluiu que quase 60% dos jovens já sofreu um enquadro. Dois terços deles são negros ou indígenas e 80% deles classificou a conduta da abordagem policial como sendo pouco respeitosa ou violenta. Tais dados mostram que há uma parcela da população que ao percorrer o espaço público, sabe que, logo menos, poderá ser abordada de forma abusiva por um policial. Tão preocupante quanto, é o fato de que 28% dos jovens que já sofreram um enquadro ficaram com sequelas físicas ou psicológicas.
“A abordagem deveria seguir o mesmo protocolo em todos os locais. Mesmo onde há mais crimes ou ataques a policiais, o respeito ao abordado deve ser o mesmo de outros locais”, afirma Bruno Langeani, gerente da área de Sistemas de Justiça e Segurança Pública do Instituto Sou da Paz. Segundo ele, o fato de as corporações policiais não coletarem dados relativos à gênero, raça e características socioeconômicas dos abordados é negativo, principalmente por dificultar que possa ser feito um mapeamento dos grupos mais afetados pelo enquadro violento.
Tendo em vista dados relativos aos homicídios que atingem a juventude negra brasileira causados por forças policiais, principalmente a sua parcela que vive em regiões periféricas com policiamento ostensivo, não é difícil deduzir que essa parcela da população está mais suscetível a sofrer um enquadro sem motivos. Segundo o Atlas da Violência de 2017, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 10 anos, o índice de homicídios que vitimaram mulheres negras aumentou 22%. Dessa forma, é possível concluir que, dentro da violência de gênero, a vulnerabilidade das mulheres negras nos espaços públicos faz com que elas sejam colocadas em situações mais abusivas.
De acordo com Maíra, o padrão racial e socioeconômico das abordagens não foram comprovados por pesquisas, mas ao observar o sistema carcerário, por exemplo, é possível chegar a conclusões. “O principal argumento que corrobora com essa hipótese de haver um padrão racial e socioeconômico nos enquadros é o perfil na população carcerária, porque um dos primeiros filtros para a entrada no sistema carcerário é a abordagem policial”, conclui. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, que traz dados de 2014, foi divulgado em 2016 pelo Departamento Penitenciário Nacional. Segundo o documento, 61,6% da população carcerária, em 2014, era negra.
Treinamento policial
Na pesquisa “As Mulheres nas Instituições Policiais”, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram ouvidos mais de 13 mil policiais, em sua maioria das polícias Militar, Civil, Técnico Científica e Federal. Os resultados mostram que 62,3% dos policiais homens acreditam que o comportamento das mulheres dentro da instituição policial pode incentivar comentários inapropriados ou assédio, tanto moral quanto sexual. Entre as próprias policiais mulheres o número também é alto, correspondendo a 57,4%.
Além disso, das mulheres entrevistadas, 39,7% afirmam que comentários inapropriados sobre orientação sexual ou gênero ocorrem com frequência, 62,9% delas já experimentaram pessoalmente comentários inapropriados ou de conotação sexual dentro da corporação e 39,2% já sofreu assédio moral ou sexual dentro da instituição de trabalho. É esperado que essas pessoas, que cometeram tais atos, levem suas construções sociais para fora da corporação, aplicando-as na rua, durante o trabalho. Isso mostra o grave problema educacional que atinge as instituições policiais.
Em 2015, a Polícia Militar do Estado de São Paulo fez mais de 3 milhões de abordagens na capital, 67% delas foram feitas nas zonas leste e sul. Esses são dados revelados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo por meio da Lei do Acesso à Informação. Bruno Langeani afirma que a abordagem é uma ferramenta preventiva e é utilizada não só no Brasil. Contudo, comparando esses números com os de outras polícias ao redor do mundo, percebe-se que no Brasil a frequência das abordagens é bem alta, principalmente em São Paulo. “Creio que isso se deve a uma compreensão de que a abordagem é um medidor de trabalho e por isso é muito incentivada”, comenta.
Para Langeani, “a principal deficiência da instituição policial é a falta de um mecanismo de supervisão que monitore se as abordagens não estão sendo feitas baseadas em preconceitos ou estereótipos e se elas estão seguindo os mesmos procedimentos com todos os públicos”. Dessa forma, na visão do Instituto Sou da Paz, é necessária uma rigorosa fiscalização que verifique se alguns grupos não sofrem mais com o uso da força ou com assédios que outros. “Além disso, a profissionalização deve conseguir diminuir os abusos e por consequência o desgaste com a população”.
Um caminho para essa profissionalização adequada, além de um firme monitoramento da conduta policial, é a educação. A importância do ensino que precede a atuação dos agentes de segurança pública foi reiterada por Erich Meier, responsável técnico do Programa com as Forças Policiais e de Segurança do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), em coletiva de imprensa, em São Paulo. Segundo ele, temas relacionados à dignidade e os direitos humanos devem ser tratados no ensino dos policiais. “Isso deve ser contemplado na malha curricular e nos conteúdos programáticos da formação e do treinamento policial.” Ele ainda cita que são pertinentes todos os mecanismos educacionais que possam fazer com que as pessoas sejam protegidas pelo Estado e contra o abuso dele.
Enquanto a educação dentro das salas de aula das instituições policiais tem aparentado apresentar falhas, surgem pequenas alternativas que tentam contribuir para a minimização do problema. Em 2016, o Condepe, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, lançou a cartilha “Abordagem Policial”, com orientações do que pode e não pode ser feito pelos agentes de segurança durante uma abordagem. O presidente do Condepe, Rildo Marques de Oliveira, em entrevista à Folha de São Paulo, disse que o objetivo da cartilha é fazer com que a população fique ciente de seus direitos e do que é ilegal em uma abordagem policial, “sobretudo nos bairros em que mais acontecem incidentes de abordagens mal feitas”. Ele ainda afirmou que o Conselho incentiva que a denúncia seja feita nos órgãos de controle e, segundo ele, a polícia “precisa se pautar nos direitos legais” ao fazer a abordagem.
Segundo a cartilha, as buscas pessoais devem ser feitas somente nos casos em que o policial suspeite que o cidadão ou a cidadã carregue consigo arma ou droga. Além disso, o texto ainda salienta que a suspeita deve ser justificada por algum indício e que o policial não pode parar ninguém por estar na periferia ou em razão da cor da pele, orientação sexual, gênero, características físicas ou a forma como está vestido, por exemplo.
Os crimes de injúria ou abuso de autoridade podem ser denunciados nos casos em que o policial xingar, gritar ou violentar a pessoa que está sendo revistada ou familiares que se aproximem. Em relação às mulheres, o Condepe deixa bem claro que o ato de passar as mãos em partes íntimas durante a revista também pode, não só ser denunciado como abuso de autoridade, como também corresponde ao crime de ato libidinoso.
(*) Nomes fictícios
Por Giovanna Costanti de Lima
giovannacostanti@usp.br