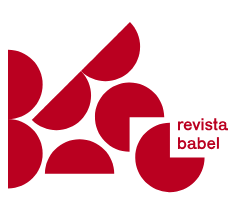Mulheres forrozeiras enfrentam machismo e desvalorização para conquistar seu espaço no cenário musical
Foi criança que Janayna Pereira teve contato com o forró pela primeira vez. Da vitrola, os discos de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos arrancavam do fundo do peito de seu pai – baiano do Raso da Catarina, mas radicado em São Paulo – emotivas nostalgias ao mesmo tempo que embalavam a infância da menina, criando memórias afetivas jamais esquecidas. Ainda assim, o interesse mesmo só veio na adolescência. No curso de teatro, fascinada pelas máscaras, Janayna voltou-se para aquelas da comédia brasileira e daí partiu para os estudos da cultura popular nacional como um todo. Foi quando uma colega da Escola de Arte Dramática (EAD), da Universidade de São Paulo (USP), notando seu interesse, a convidou para conhecer o Galpão 16, na Vila Madalena. “Ela me levou em um forró. E eu cheguei lá e me amarrei, porque antes eu ia em bailes de dança de salão, com bandas cujo repertório era muito vasto, tinha só um forrózinho ou outro”, recorda.
Era o primeiro contato dela com o que, pouco depois, viria a se tornar o que hoje é conhecido como forró universitário. Criado entre as décadas de 1990 e 2000, esta vertente do forró surgiu entre os jovens do Sudeste, que adaptaram o ritmo ao seus gostos, acrescentando instrumentos como violão e contrabaixo ao clássico trio de zabumba, sanfona e triângulo do pé-de-serra. Janayna conta que parte da explosão do forró universitário se deu também a estratégias de marketing de gravadoras como a Paradoxx (hoje incorporada à Universal Music), que buscavam atingir as classes A e B. “Porque até então o forró era tido como um ritmo popular, de classe C, D e E. Existia um grande preconceito em cima do movimento. Já a galera universitária era mais vista como mais esclarecida”.
Numa dessas idas ao Galpão, Janayna topou com Miltinho Edilberto, cantor e compositor que ela já conhecia de seus trabalhos com cultura popular e que sabia de sua experiência com teatro musical. “Ele já havia me feito o convite para cantar com ele, mas eu, muito tímida, achei que não tinha nada a ver. Eu era atriz, estava estudando para isso, não queria saber de ser cantora.” Naquele dia, porém, ela se deixou convencer pelas amigas e subiu no palco. “A primeira música que eu cantei foi Estrada do Canindé, que era a música que mais emocionava meu pai porque era a rotina do meu avô indo para a roça. Fazia ele chorar, o lembrava do tempo em que morava no sertão e que tinha que andar 4 km a pé para ir para a escola. Foi a música que me veio na hora”, ela lembra.
O que era para ser só uma canja se tornou meia hora. Emendando música após música do repertório de sua memória, Janayna se divertia, mal imaginando que aquela seria a primeira de muitas noites cantando forró em cima de um palco.
Ao final da apresentação, Miltinho repetiu o convite, dessa vez para que ela cantasse no KVA, uma casa noturna mais voltada para o forró. Ela aceitou e foi, mas sem muita coragem, cantou duas músicas por incentivo das amigas. Miltinho, porém, não a deixou descer do palco, insistindo que ela ficasse fazendo a voz de apoio. “No final, ele me deu R$ 50 e eu perguntei ‘Nossa, mas por que você está me dando essa dinheirama toda?’. O salário mínimo que eu recebia na época, como estagiária, era de R$ 123”. Como resposta, Janayna recebeu a proposta de cantar nas quintas-feiras e sábados, recebendo o dobro daquele valor por cada show. Com quatro apresentações por mês, ela já conseguiria ganhar R$ 800, o que, no final da década de 1990, poderia ser considerado uma pequena fortuna.
Muito orgulhosa, Janayna logo foi contar a novidade para o pai, uma vez que, mesmo já tendo saído de casa, ela ainda recebia ajuda dele, pois seu salário não dava conta de cobrir todas as despesas. “Liguei para ele e falei ‘Pai, você não precisa mais gastar, agora consigo me manter sozinha. Agora eu vou ser backing vocal do Miltinho da Viola, vou cantar forró’. Pense num homem que ficou orgulhoso!”.
A vez…
Nem todas as mulheres que decidem trabalhar com o forró recebem este apoio familiar. No caso da recifense Anna Valkyria Nunes, a influência para se tornar musicista veio de casa, dos festejos ao som de sucessos de Gonzaga, Jorge de Altinho, Elba e Genival Lacerda. Aos 11 anos, ela passou a tocar teclado em uma banda da família, depois integrou um grupo que se apresentava em mercados do interior. Bastou porém que a menina manifestasse a vontade de fazer daquilo uma carreira, para sua família ser a primeira a ir contra a ideia. “Eles achavam que eu tinha que estudar para ser advogada. Então resolvi sair de casa e fiquei praticamente morando nos lugares onde trabalhava, ao mesmo tempo que continuava estudando”, conta ela.
Muito cedo, Anna aprendeu que sua vontade de ocupar aqueles espaços musicais era vista como uma ousadia, especialmente entre os mais velhos. Mesmo trabalhando com grandes nomes como Dominguinhos – de quem recebeu o conselho de adotar o nome artístico de Maria Fulô –, era por conta própria que ela corria atrás do que queria. “Passei muito perrengue, fui humilhada, subestimada. Na época em que eu comecei a tocar sanfona, ouvi de um namorado que eu parecia um macho”, relata.
Sozinha, ela teve que descobrir como vender a Maria Fulô. “Aprendi a produzir porque não tinha quem fizesse por mim e era caro. A gente vai aprendendo desde a fazer a arte do CD até a ser empresária.” Percebendo a falta de oportunidades para mulheres musicistas em Recife, ela decidiu montar uma banda inteiramente feminina. Inúmeros ensaios depois, a empreitada chegou ao ponto de integrar 11 mulheres ao mesmo tempo, destoando completamente da realidade em que a única presença feminina nas bandas costuma ser a da vocalista.
“As pessoas não estão acostumadas a dar visibilidade para mulheres. Elas são menos convidadas para eventos, menos conhecidas, menos propagadas”, explica o coletivo capixaba O Segundo Forró, fundado em 2019, a partir da inquietação de se discutir o assédio e o machismo neste meio musical. Suas integrantes contam que, uma vez que a dominação masculina está em todas as esferas da sociedade, isso não seria diferente com o forró. “O reconhecimento das produções artísticas sempre pende para os homens e isso reverbera até os dias de hoje.”
Foi do incômodo com essa invisibilidade que a cearense Jamille Queiroz teve a ideia de criar a banda Cabra é Fêmea. Também entusiasta do ritmo desde a infância, a cantora e percussionista não se conformava que o lugar da mulher dentro do gênero fosse reduzido apenas ao de corpo que dança. “Queria mostrar que a gente tem voz, vez e direito de tocar e de fazer um forró tão lindo quanto o dos amigos homens.” Com amigas, ela formou então um grupo de forró de rabeca.
Fisicamente muito semelhante ao violino, mas de sonoridade bem distinta, o instrumento melódico foi um dos primeiros a ser tocado no forró, muito antes da introdução da sanfona, e até hoje é parte das música nordestina, tradição mantida especialmente pelos mestres rabequeiros. No caso da Cabra é Fêmea, a rabeca entra em uma combinação do raiz com o contemporâneo, variando entre o pé-de-serra, o risca-faca e até o brega. “Gostamos dessa mistura boa de dançar e a partir daí vamos fazendo coco, forró, xote, baião, xaxado…”, explica Jamille.
Hoje, ao lado das colegas Naiara Perez (zabumba e voz) e Luana Caroline, mais conhecida como Pereirinha e que é responsável pela rabeca e também a voz, Jamille faz o que chama de forró feminista. Suas principais influências, portanto, não poderiam ser outras que não grandes mulheres forrozeiras. “Eu me inspiro demais na Marinês. Ela foi uma das primeiras a subir no palco e cantar forró em uma época em que mulher não podia fazer isso. Também tem a Anastácia, que escreveu a maioria das músicas que a gente canta”, diz, referindo-se à pernambucana que, aos 80 anos de vida e 66 de carreira, carrega o título de rainha do forró. Esposa de Dominguinhos durante quase uma década, Anastácia compôs somente com ele mais de 200 canções. Seu reconhecimento, porém, poderia ser maior. “Muitas vezes ouvimos uma música e falamos ‘Ah, de Dominguinhos’, esquecendo que quem deu a letra foi a Anastácia.”
Janayna também sabe bem o que é sentir-se tolhida. Por 18 anos, foi a voz do grupo Bicho de Pé, mas sentia que não tinha voz dentro da banda. “O crédito para a mulher ainda é mais difícil. Eu tenho que bradar aos sete ventos que todas as músicas do Bicho de Pé são minhas. O pessoal acha que em banda que mulher canta, ela só faz isso. Que é uma marionete”, protesta. A falta de igualdade e o desejo por maior liberdade artística a levaram a seguir carreira solo. “Eu trabalhava mais e ganhava igual. Gastava mais, porque mulher tem figurino, maquiagem, uma gama de coisas. Eles nunca me davam ouvidos, tudo que eu achava necessário fazer, eles não queriam. Chegou uma hora que cansei de ser contestada”, ela desabafa.
… e a voz delas
O apagamento feminino no forró não se dá unicamente na exclusão das mulheres da cena musical. De forma mais escancarada, ele também está presente nas letras, que reduzem a figura feminina a objeto, seja de idealização, desprezo ou sexualização. Se no forró tradicional a mulher costuma ser a “morena” recatada e cortejada para o chamego no salão, na vertente eletrônica (também conhecida como forró estilizado) ela é muito mais explicitamente erotizada. Em ambos os casos, o que permanece é uma dominância da voz masculina.
Tomando cuidado para evitar anacronismos ao analisar canções mais antigas, o Coletivo aponta que muitas músicas que fazem referência à violência, à misoginia e a todos os subprodutos do patriarcado, ainda hoje são tocadas e dançadas nos bailes. “O forró é um recorte social. Todos os obstáculos impostos pelo patriarcado que encontramos em nossa sociedade também encontram espaço para se manifestar no ambiente forrozeiro, afinal, ele não é isento”, explicam suas integrantes, reforçando a importância de um senso crítico que não seja prescritivo.
“Por quê eu virei compositora? Porque era muito difícil encontrar músicas com o eu-lírico feminino, que coubessem na boca de uma mulher. Para mim, isso fazia muita diferença. Eu já era feminista sem saber”, explica Janayna. Também já não lhe satisfazia a ideia de só re-interpretar músicas já existentes. “Eu não queria escrever que nem nordestino porque eu não vivia aquele contexto. Sempre entendi que a gente não tinha que copiar eles, mas sim que reinventar aquilo. Foi assim que eu comecei a escrever minhas músicas.”
Valendo-se de composições próprias e também paródias de forrós clássicos, a Cabra é Fêmea exalta em suas canções a força da mulher. Paraíba Masculina, por exemplo, virou Paraíba Feminista nas vozes do trio. Mulher Rendeira passou a ser Mulher Guerreira. “Olhando para as mulheres e para suas histórias, nos vem uma inspiração e tanto para que a gente suba no palco e tente fazer a diferença e mostrar para essa mulherada que estamos juntas na luta”, afirma Jamille. Em Jurema, música escrita pela zabumbeira Naiara, a temática é o empoderamento feminino, dentro e fora do forró. No quarto verso, o trio manda o recado, mais claro impossível:
Moço, me deixa falar um bocado
Tenho sede de trabalho e não ligo pra suor
Penso que posso fazer da minha vida tudo que eu puder e quiser
Apresento minha força, me chamo mulher
Ainda é difícil, porém, que essas letras sejam bem recebidas entre a parcela masculina dos forrozeiros. “As simples palavras ‘forró feminista’ já assustam as casas de show”, relata Jamille, contando que muitos produtores deixam de apoiar o trio por se sentirem ameaçados e que acaba por deixá-las de fora de muitos circuitos. “Acham que é ‘mimimi’ de mulher, que é um desafio. E não queremos cantar só pra feministas, mas também para homens não têm contato com o movimento. Mas é difícil que eles fiquem no público e ouçam até o final o que temos a dizer.”
Para Janayna, nos últimos anos o protagonismo feminino no forró de fato cresceu, mas, assim como outras conquistas do movimento feminista, a passos de tartaruga. Intérpretes são sim muitas, mas ainda há escassez de compositoras, o que não é um problema exclusivo do ritmo. “É algo que remonta do clássico, a irmã do Mendelssohn, Fanny, era compositora, mas a família era contra. Aqui no Brasil, a primeira compositora foi a Chiquinha Gonzaga. Depois dela, muito poucas. Parece que a mulher ainda não criou confiança, mas talvez porque essa confiança não tenha sido dada a ela.”
Recordando o movimento sufragista do começo do século XX, ela vê que, no fundo, as lutas não mudaram muito de lá para cá. “Nós agora podemos trabalhar, mas ainda não temos equiparação salarial. Uma banda de homem ganhava R$ 800 no KVA. A minha, R$ 600. Por quê? Eu sempre achei estranho, nunca me conformei. Sempre fui a primeira a bater o pé e dizer que se não tivesse o mesmo salário, eu parava de ir.”
Cultura de quem?
Mesmo com tantos anos de carreira, o maior desafio de Janayna, agora solo, ainda é conquistar seu lugar de fala no meio enquanto mulher. Em festivais de forró, para cada artista feminina convidada, existem outros dez masculinos, ela diz. Jamille completa: “Parece que a gente entra na cota, para eles poderem dizer ‘Aí, tá vendo? Também apoiamos as mulheres’. Mas a verdade é que os homens ainda têm mais apoio e até mais público, porque muitas vezes as próprias mulheres não fortalecem nosso forró.”
Mas ambas reconhecem que a desvalorização também se dá de outras formas. “A gente ganha mal, tudo é feito com muito amor, mas pouca estrutura. Isso cansa. Eu fico puta porque acho que existe um certo desdém com isso. Como é que a música nordestina tradicional não tem valor?”, indigna-se Janayna.
Para quem é artista independente como a Cabra é Fêmea, a estrada é ainda mais espinhosa. Sem suporte de patrocinadores ou mesmo de uma produtora, as meninas contam com o suporte de amigos e tiram sempre do próprio bolso a grana para seus projetos. “Fazemos tudo na raça e caminhamos sozinhas, então é preciso muita força de vontade e coragem para prosseguir assim. Se não lutarmos, não conseguimos sobreviver.”
De uns tempos para cá, até o São João, indiscutivelmente época de forró, tem sido disputado por artistas de outros segmentos. Em 2016, foi divulgado pelo Diário de Pernambuco que Bell Marques, do axé, recebia R$ 280 mil para se apresentar em festas juninas de Caruaru, enquanto nomes consolidados do forró como Jorge de Altinho e Adelmário Coelho ganhavam, respectivamente, R$ 85 mil e R$ 70 mil. Elba Ramalho, a mulher mais bem paga da lista, tinha o cachê de R$ 190 mil.
Cá no Sudeste, não é diferente. Em 2012, ano do Centenário de Luiz Gonzaga, a Virada Cultural não tinha um palco dedicado ao forró, e o Bicho de Pé só conseguiu participar do evento por já ser uma banda de médio porte com contatos na Secretaria de Cultura. Mesmo assim, no meio do show, Janayna não se segurou e chamou atenção dos organizadores para a vergonha que era não ter um palco de forró em uma cidade com tantos nordestinos. “Ficaram três anos sem me chamar. Por causa de show eu não faço questão, mas me importa a visibilidade do movimento. Como é que se tem um palco de música alternativa e não tem de forró? Era só música de branco. Não era cultural? Então cadê a cultura? E cultura de quem? Do povo que vocês querem que a gente seja ou do povo que a gente é?”
Por Gabriela Teixeira
gabrielatsaraujo@usp.br